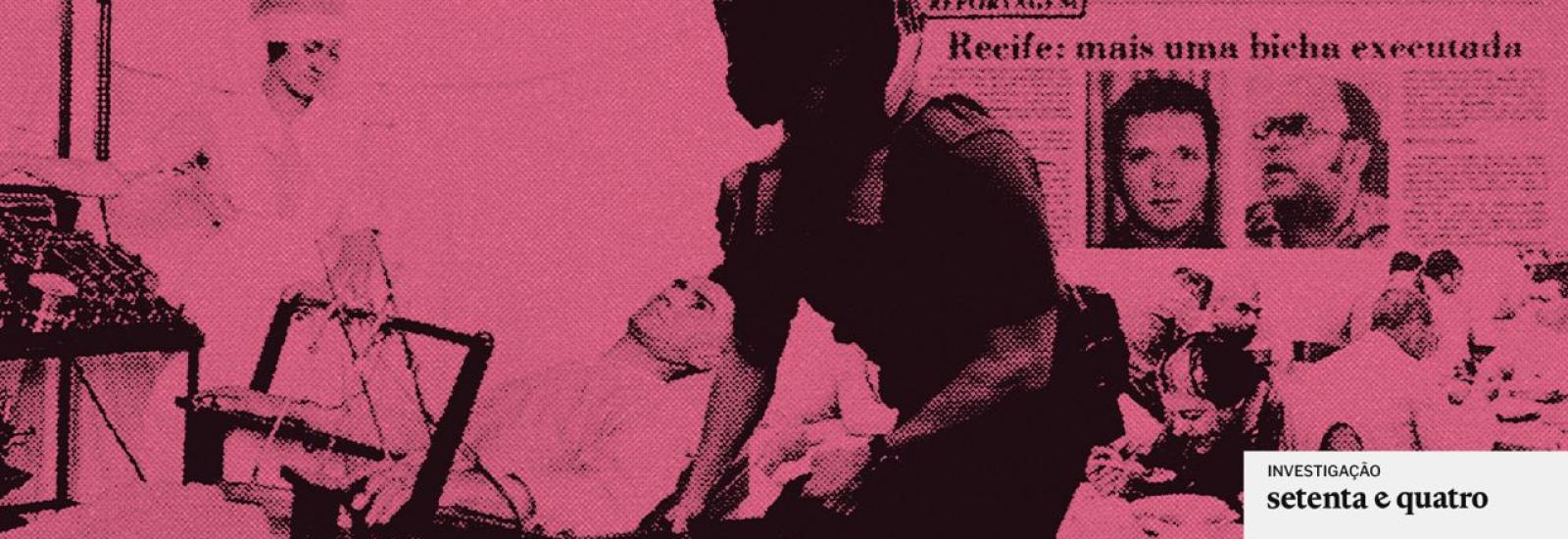
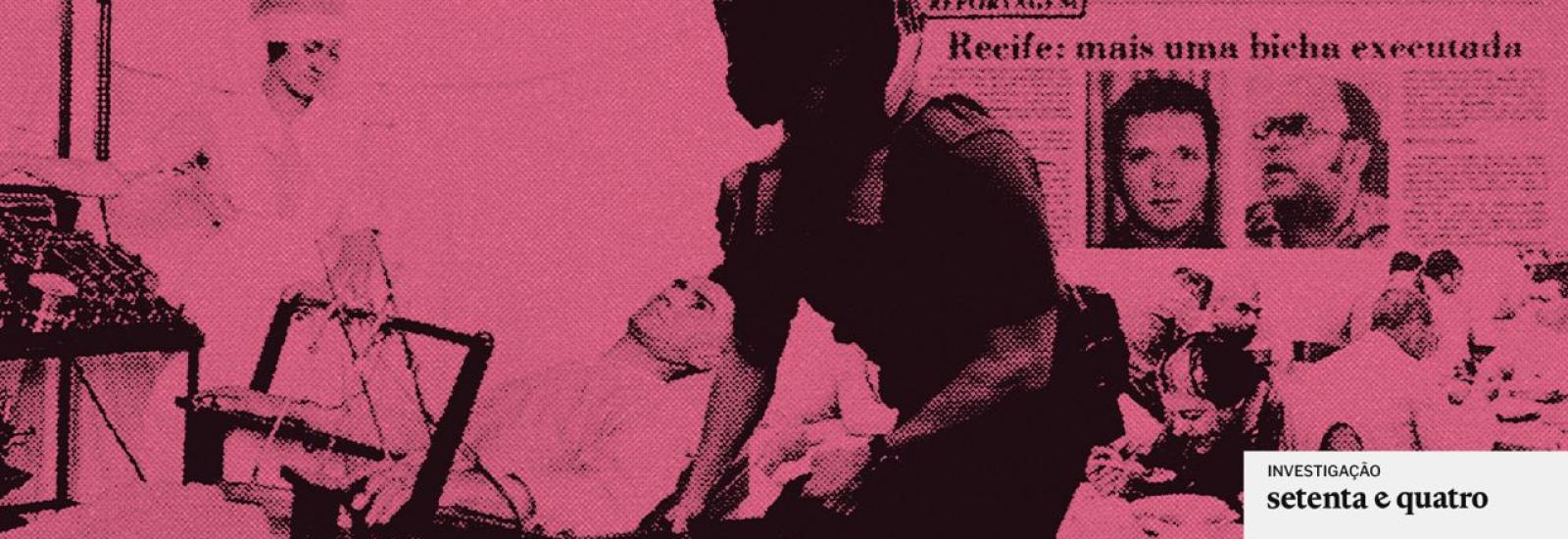
Se hoje as práticas de conversão de orientação sexual são feitas às escondidas, nos anos da ditadura a homossexualidade era tratada como doença até pelos médicos mais conceituados. O Setenta e Quatro conta duas histórias marcantes dessa época de repressão.
Valentim de Barros tinha 20 anos quando saiu de Portugal para perseguir o sonho de ser bailarino profissional. Dançou em palcos espanhóis e alemães até ser repatriado para Portugal pela Gestapo de Adolf Hitler. Foi várias vezes internado no Hospital Miguel Bombarda até não sair mais: viveu numa cela quase 40 anos. Fizeram-lhe uma lobotomia aos 31 anos e mais tarde deram-lhe choques elétricos. Porquê? Por ser homossexual e gostar de se vestir com roupas de mulher.
O amor pela dança surgiu quando Valentim de Barros ainda era adolescente. Diziam-lhe que tinha ‘modos afeminados’, adorava fazer tarefas domésticas e não largava o desejo pela dança. Queria seguir a carreira de bailarino e os pais não o apoiaram, pressionavam-no para que tivesse uma carreira mais respeitável. Valentim fez-lhes frente e, pouco depois de fazer 20 anos, pegou no que pôde levar consigo e rumou para Espanha em 1936. Dançou em Madrid e em Barcelona, até que estalou a Guerra Civil Espanhola.
Foi feito prisioneiro pelos republicanos, mas conseguiu fugir. Refugiou-se num convento e, disfarçando-se de freira, rumou para Génova, em Itália, e depois para Marselha, em França, até finalmente viajar para a Alemanha, como contou numa entrevista ao Expresso a 10 de maio de 1983. Atuou em Estugarda, Dortmund, Munique, Hamburgo e Berlim. Dançou para plateias onde Adolf Hitler se sentou, foi condecorado por Herman Göring, um dos braços direitos do ditador alemão, e conheceu a estrela de cinema alemã Marlene Dietrich em Berlim. Terá chegado até a namorar com um soldado das Waffen-SS, a tropa de elite do Estado nazi, lê-se numa outra reportagem do Expresso.
A lobotomia foi feita à revelia da família e, sobretudo, do médico assistente – não a tinha pedido, não aconselhava e não estava presente quando levaram o Valentim para o Júlio de Matos, conta António Fernando Cascais.
Depois começaram os problemas e a sua história complicou-se. Chegava atrasado, ou faltava mesmo, aos espetáculos e recusava-se a receber ordens dos superiores. Queria ter maior destaque nas peças em que participava. Acabou por ser repatriado em dezembro de 1938 por razões nunca esclarecidas (se por desleixo na profissão, por se envolver sexualmente com um membro da orquestra ou se por falsificação de documentos), restando apenas a sua versão dos acontecimentos: o de ter sido agredido por um colega.
“Um bailarino agrediu-me e fui fazer queixa dele à polícia, aí retiveram-me durante três meses, dizendo-me que era para averiguações, e roubaram-me todos os meus haveres”, disse Valentim de Barros em entrevista ao jornalista Luís d’Oliveira Nunes, do Diário de Lisboa, na edição de 6 de abril de 1968. “Davam-me uma comida que nem para porcos servia. Quando de lá saí, parecia um cadáver", contou, recordando a prisão de Hamburgo.
Os alemães da Gestapo repatriaram-no e entregaram-no à PVDE, a antecessora da PIDE, em janeiro de 1939. As duas polícias políticas mantinham contactos próximos, inclusive de formação de agentes, e Valentim de Barros ficou à guarda da polícia política portuguesa para analisar se era um risco à segurança do Estado Novo: ficou três meses detido numa prisão no Porto. Tentou uma fuga à descarada e, relataram os agentes em relatórios, referidos pelo jornalista Bruno Horta, começou a mostrar sinais de degradação da sua saúde mental.
A PVDE pediu uma perícia psiquiátrica, conta António Fernando Cascais, ao Hospital de Conde Redondo e a sua sentença foi quase ditada. Foi considerado doente mental e inimputável, entregue à mãe em Lisboa. As consultas no hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, começaram em maio de 1939.
Logo na primeira visita, os médicos fizeram um diagnóstico que o marcaria para o resto da vida. “Cumprimenta-me à entrada, senta-se quando lhe ordeno. Modos afeminados, melífluos, dengosos, denunciantes da sua inversão sexual. Perfeitamente calmo, humor natural. Respostas adaptadas, longas, circunstanciadas, voz afeminada”, lê-se num relatório médico, citado por Bruno Horta no livro Aquele Lustro Queer (2015-2020), compêndio de entrevistas e reportagens publicadas pelo jornalista.
Manteve-se em casa com a mãe, pelo meio de discussões surgiram problemas (supostamente por causa de heranças, falando-se em atos violentos) e foi internado três meses em 1939, saindo no final de setembro.
A sua “liberdade” não durou muito: quatro meses depois de ter sido libertado, foi novamente internado em janeiro de 1940 e apenas voltou a sair pelos portões do hospital psiquiátrico a 9 de junho de 1948, para ser submetido a uma leucotomia pré-frontal.
Esta técnica consiste numa intervenção cirúrgica no cérebro por via de dois orifícios no crânio, inserindo-se depois um instrumento afiado no tecido cerebral. Este instrumento é movido para a frente e para trás para cortar as ligações entre os lobos frontais e o resto do cérebro. Esteve na origem do que hoje se conhece por lobotomia.
No dia seguinte, 10 de junho, Valentim e um outro paciente foram alvo desta técnica médica à revelia da família e do médico assistente. “Os dois doentes eram homossexuais. Foi feita a lobotomia à revelia da família e, sobretudo, do médico assistente – não a tinha pedido, não aconselhava e não estava presente quando levaram o Valentim para o Júlio de Matos”, conta ao Setenta e Quatro António Fernando Cascais, professor de Ciências da Comunicação da FCSH-Universidade Nova de Lisboa. “A intervenção teve sequelas, mas não alterou a orientação sexual.”

Valentim regressou ao hospital Miguel Bombarda 15 dias depois e lá ficou nas décadas que se seguiram, sem que a sua orientação sexual tivesse mudado. Foi precisamente isso que o enfermeiro Silvino registou mais tarde. “Se dantes convidava os outros doentes para práticas homossexuais e se metia na cama com eles, depois da leucotomia faz precisamente a mesma coisa”, lê-se num relatório clínico, citado por Horta. No entanto, o dançarino deixou de mostrar sinais de violência e tornou-se mais “obediente e respeitava mais as leis da casa”. Ficou para sempre com dois furos na cabeça.
“O que aconteceu ao Valentim teve de certo modo uma dimensão experimental”, afirma António Fernando Cascais, também co-autor de um livro sobre o Hospital Miguel Bombarda. “Foi usado pelo médico Egas Moniz em tratamentos cruéis e degradantes, sem consentimento ou quadro clínico que o justificasse. É por isso símbolo do totalitarismo científico e político anti-homossexual”, critica em declarações ao Setenta e Quatro Bruno Horta. “Acho que é mais um caso de homofobia, ciente de que a palavra não pode ser aplicada num contexto dos anos 1920, 1930 e 1940.”
O diretor do Miguel Bombarda entre 1922 e 1941, Sobral Cid, opunha-se veementemente às leucotomias de Egas Moniz. “Há uma carta em que Sobral Cid sugere que não quer enviar determinados doentes do Miguel Bombarda para o Egas Moniz usar como cobaias. Diz isso claramente”, ressalva Bruno Horta. “Há consciência de um médico de que aquelas experiências eram pouco consentâneas – para não dizer abusivas – mas o Egas Moniz fá-las. Fez isso com o Valentim de Barros como fez com mais outros anónimos, desconhecidos e que nunca saberemos quem foram.”
É que a lobotomia aconteceu nas vésperas do Congresso Internacional de Psicocirurgia, realizado no Hospital Miguel Bombarda em agosto de 1948. O evento foi considerado essencial para Egas Moniz recolher apoios para, dois anos depois, receber o Prémio Nobel de Fisiologia e Medicina. Um dos médicos presentes foi o norte-americano Walter Freeman, responsável por exportar e generalizar as lobotomias nos Estados Unidos e no resto do mundo. Desde 1935 que os dois médicos trocavam correspondência sobre esta técnica.
Os médicos deram alta a Valentim no início de novembro de 1948, mas voltou a ser internado em janeiro de 1949, desta vez submetendo-o a uma nova terapia: os eletrochoques. O jornalista Bruno Horta diz que terá trabalhado como bailarino no Teatro Éden, no centro de Lisboa, mas aconteceu um episódio que levou a que fosse novamente internado.
“Entrou travestido na casa de banho das senhoras e foi descoberto por uma das utentes que exuberantemente manifestou o seu pânico ao perceber que estava perante um homem”, lê-se na entrevista do Diário de Lisboa.
Valentim agrediu a mulher, acabando por dar definitivamente entrada no Miguel Bombarda. Circulou ao longo dos anos por três enfermarias do hospital até ser permanentemente instalado no Pavilhão de Segurança – zona hospitalar onde estavam os criminosos inimputáveis e extremamente violentos. Nunca se percebeu o porquê de lá ter sido posto, escreveu Bruno Horta.
“Valentim foi usado pelo médico Egas Moniz em tratamentos cruéis e degradantes, sem consentimento ou quadro clínico que o justificasse. É por isso símbolo do totalitarismo científico e político anti-homossexual”, critica Bruno Horta.
O certo é que nunca mais de lá saiu, até morrer a 3 de fevereiro de 1986, aos 69 anos. Passou quatro décadas encarcerado e foi abandonado pela família – a irmã Ester ainda manteve o contacto por algum tempo, mas depois perdeu-se-lhe o rasto. A despatologização da homossexualidade (1973) e a descriminalização no Código Penal português (1982) passaram ao lado de Valentim de Barros.
António Fernando Cascais conheceu Valentim por breves momentos numa visita de estudo do secundário, e ainda hoje se lembra desse momento. “Cheguei a falar com ele e fomos apresentados pela enfermeira-chefe. Já estava muito doente, estava acamado, não falava. Não tinha condições para comunicar com as pessoas”, recorda ao Setenta e Quatro. “Ele vivia numa cela do pavilhão de segurança, que era essencialmente um espaço privado. Era um veterano, um doente muito antigo, e não tinha para onde ir. Foi abandonado pela família.”
Nesses quase 40 anos de reclusão, o dançarino português acostumou-se à sua vida entre quatro paredes, e nem a lufada de liberdade do 25 de Abril de 1974 lhe mudou o destino. Anos e anos depois de ser internado, foi autorizado a sair por algumas horas por dia pelos portões do hospital psiquiátrico, mas pouco o fazia. Passava os dias a relembrar a sua vida através dos recortes de jornais que pendurou nas paredes da sua cela, a criar bonecas e a pintar quadros – foram expostos em 2013 no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
Além das entrevistas que Valentino deu ao Diário de Lisboa e ao Expresso, a sua história há muito esquecida foi trazida ao de cima pelos jornalistas São José Almeida (2010) e Bruno Horta (2014). A sua história chegou até a inspirar a peça de teatro Mário, encenada e escrita por Fernando Heitor, que estreou no Cinema São Jorge, em Lisboa, em 2019.
Foi o caso de Valentim excecional em Portugal? “Em Portugal, houve criminalização e patologização, mas o internamento psiquiátrico foi absolutamente excecional”, garante António Fernando Cascais. Mas, continua, “isto é a documentação que conhecemos”, pois a “prática das famílias de elite de esconderem os seus homossexuais existia nos hospitais privados”. “Não é improvável, mas não há documentação e esses hospitais não têm o mesmo acesso que os hospitais públicos”, salienta.
De qualquer forma, e ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, não existiu uma prática de internamentos em massa de homossexuais, continua António Fernando Cascais. Isso justifica-se em parte pela estrutura da sociedade portuguesa: as famílias lidavam com os casos de homossexualidade em privado e só quando já não eram capazes de o fazer é que a sociedade entrava na equação, fossem médicos ou agentes da polícia. O Estado era o último reduto.
Depois de séculos de perseguição religiosa, a homossexualidade foi criminalizada e, mais tarde, classificada como doença. O termo “homossexualidade” surgiu pela primeira vez em 1848 pela mão do psicólogo alemão Karoly Maria Benkert.
Caraterizou-o da seguinte forma: “além do impulso sexual normal dos homens e das mulheres, a natureza, do seu modo soberano, dotou à nascença certos indivíduos masculinos e femininos do impulso homossexual”, referindo que “esse impulso cria de antemão uma aversão ao sexo oposto”.
As propostas para "curar" a homossexualidade eram soluções químicas – uso de brometos, medicação tónica e reconstituintes do sistema nervoso – e métodos de desvio de pensamento – sugestão hipnótica, prescrição para dedicação ao trabalho ou para o exercício de trabalhos fatigantes e hidroterapia.
O surgimento do termo coincidiu com o desenvolvimento dos primórdios da psiquiatria. Os médicos elaboraram discursos sobre o comportamento sexual, influenciados pela moralidade judaico-cristã da heteronormatividade, e os tribunais validaram esses discursos emergentes ao dependerem de pareceres médicos para as decisões judiciais.
“É uma certa ideia do que é ser humano e do que são comportamentos adequados e não adequados do ser humano. A ciência médica pegou nos comportamentos não adequados e transformou-os em comportamentos não saudáveis”, explicou ao Setenta e Quatro a psicóloga Gabriela Moita.
A psiquiatria debruçou-se então sobre a natureza inata ou adquirida dessa considerada “perversão”. Os inatistas apontaram como factores para a homossexualidade caraterísticas físicas, constitucionais ou malformações de natureza hereditária, enquanto os defensores da linha teórica da natureza adquirida argumentavam que tamanho excessivo dos órgãos genitais era o principal factor. E, por fim, uma terceira linha argumentava que a homossexualidade era fruto da mistura entre a natureza inata e a adquirida, variando em graus conforme o indivíduo em questão - masturbação em excesso seria um exemplo.
Apesar do debate médico sobre a homossexualidade, a sua patologização foi pilar de todas as abordagens clínicas. Portugal não foi exceção. Entre 1885 e 1932 houve quatro trabalhos médicos publicados sobre a homossexualidade e perversões sexuais, lê-se na tese de doutoramento de Gabriela Moita: A Inversão Sexual, de Adelino Silva, de 1885; Vida Sexual, de Egas Moniz (1906); Amor Sáfico e Socrático, de Arlindo Camillo Monteiro (1922); e Medicina legal: homossexualidade masculina através dos tempos, de Asdrúbal D’Aguiar (1932). Fizeram escola na psiquiatria portuguesa nas décadas que se seguiram.
Os médicos Arlindo Camillo Monteiro e Asdrúbal D’Aguiar viam a homossexualidade como anomalia não patológica, enquanto os restantes autores a consideravam uma degenerescência e indiciadora de debilidade sob a forma de psicopatia ou neuropatia, continua a tese.
Egas Moniz deixou isso bem claro no seu livro A Vida Sexual, publicado em 1906, ao escrever: na homossexualidade “pesam geralmente taras neuropáticas, devendo considerar-se esta anomalia do sentimento psicossexual como um estigma de degenerescência funcional”. “As perversões homossexuais não são acidentais, mas nitidamente patológicas, sobrevindo em condições determinadas. Com efeito, estas anomalias foram observadas em todas as épocas e todos os países mesmo em indivíduos que ignoravam completamente o que em outros se praticava”, lê-se na obra do médico português que recebeu o Prémio Nobel em 1949.
“O eletrochoque é uma terapia que ainda hoje existe. Já não acontece tanto nos moldes dos termos aversivos, mas em pessoas com problemas gravíssimos de depressão ainda é utilizada”, garante Gabriela Moita.
Mas, então, quais os tratamentos médicos que os ‘doentes da homossexualidade’ deveriam receber? Eram propostas soluções químicas – uso de brometos, medicação tónica e reconstituintes do sistema nervoso – e métodos de desvio de pensamento – sugestão hipnótica, prescrição para dedicação ao trabalho ou para o exercício de trabalhos fatigantes e hidroterapia, escreveu a psicóloga.
Mas, em casos particulares, também se recomendava o internamento em casas de repouso ou mesmo em clínicas – nesta altura os chamados manicómios - para evitar o agravamento do estado cerebral e atos criminosos, para cuja prática são arrastados pela sua “paixão de degenerados”, continua a tese de doutoramento Discurso sobre a Homossexualidade no Contexto Clínico – A homossexualidade de dois lados do espelho, de 2001. Valentim de Barros teve este destino.
Décadas depois, os médicos vieram juntar uma outra técnica à sua cartilha de tratamento da homossexualidade: os eletrochoques. Foi inventada pelo neurologista italiano Ugo Cerletti em 1937 e a partir daí generalizou-se como tratamento para doenças psiquiátricas. Ainda hoje é usado e está até a ganhar novo destaque nos Estados Unidos.
“O eletrochoque é uma terapia que ainda hoje existe. Já não acontece tanto nos moldes dos termos aversivos, mas em pessoas com problemas gravíssimos de depressão ainda é utilizada”, garante Gabriela Moita. “Quando o comportamento era considerado uma doença, tentava-se através de todas as metodologias tratar o sujeito. O que ficou provado ao longo do século XX? É que nenhuma terapia funcionava.”
Ao contrário das práticas de conversão de orientação sexual feitas nos dias de hoje às escondidas por psicólogos, líderes religiosos e ditos conselheiros religiosos, os tratamentos realizados por médicos na altura tentavam estar ancorados na ciência médica. A medicina ainda estava pouco desenvolvida e os preconceitos religiosos e morais (logo heteronormativos e patriarcais) tinham grande influência.
A grande maioria dos profissionais de saúde mental viraram costas a estes “tratamentos” quando a homossexualidade foi desclassificada em 1973 como doença pela Associação Americana de Psicologia (APA, na sigla em inglês) e pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais III (DSM-III), publicado em 1980. Seguiu-se depois a Organização Mundial de Saúde, a 17 de maio de 1990.
António Serzedelo sentiu na pele os eletrochoques que deveriam “curar-lhe” a homossexualidade e que, sem espanto, não resultaram. “Quando passavam as fotografias com homens recebíamos uns choques elétricos. Não digo que fosse de bater com a cabeça no teto, mas eram profundamente desagradáveis”, recorda, hoje com 76 anos. “Ele [psiquiatra] tinha um botão, as imagens passavam por um minuto ou três, para as vermos bem, e os choques aconteciam quando a imagem aparecia.”
Depois de cada choque, havia um ou dois minutos de sossego até uma outra imagem, desta vez de relações heterossexuais, aparecer. Aí não havia choques nos joelhos e nos pulsos. “Alternava-se entre a [imagem] boa e a má para criar repulsa com a da homossexualidade”. Cada sessão durava meia hora e acontecia semanal ou quinzenalmente, conta Serzedelo. Lembra-se de estar na sala de espera e de ver entrar uma pessoa na sala das sessões antes de si, de chegar outra que seria depois atendida quando a sua já tivesse terminado. Entravam por uma porta, saíam por outra, nunca se cruzavam.
“Naquela altura era dito que a homossexualidade era uma doença, e as doenças tentam-se curar”, recorda António Serzedelo.
O tratamento durou três meses, apanhando pelo meio setembro de 1973, até o psiquiatra lhe dizer que estava na altura de se fazer uma avaliação. “’Então António, como se está a sentir?’ Disse-lhe a verdade: ‘Olhe, com as mulheres a minha performance melhorou consideravelmente’. ‘Ai que bom’, disse o médico”, relembra. Houve um silêncio entre os dois e Serzedelo disparou: “’E com os homens também’”. Silêncio maior e o psiquiatra chegou à conclusão que “não valia a pena”. “Como quem diz, tu és incurável”.
Serzedelo faz questão de salientar que foi ter com o psiquiatra por sua livre vontade, nunca foi forçado. Não havia malícia no psiquiatra, garante. O jovem namorava com uma rapariga e o casamento começou a ser uma séria possibilidade, obrigando-o a contar que também gostava de homens. “Ela disse-me que havia um médico que fazia um ‘tratamento’ no hospital Júlio de Matos e que eu fosse lá consultá-lo”. Assim foi.
Há muito que ele próprio se queria converter à heterossexualidade, admite. “Naquela altura era dito que a homossexualidade era uma doença, e as doenças tentam-se curar”, recorda. Daí que uma “terapia” feita por sua iniciativa tenha sido ter relações sexuais com mulheres, “para ver se esquecia a outra vertente, a de ter relações com homens”. Por isso a sugestão de ir ao médico do hospital psiquiátrico lhe ter feito todo o sentido.
Passadas cinco décadas, Serzedelo olha para o passado e entende que esse tratamento, sobretudo a confirmação do médico de ser “incurável”, o permitiu aceitar quem é. “Fiquei mais desanuviado, menos auto reprimido. Abracei a minha identidade.” Mas também sabe que o seu caso é muito particular, que nem todas as pessoas submetidas a este “tratamento” saem de bem consigo próprias, bem pelo contrário. Podem ficar com sérias mazelas psicológicas e de identidade.
Nos anos que se seguiram à Revolução de Abril, Serzedelo foi dirigente da Opus Gay (hoje Opus Diversidades) e revelou a sua história com os eletrochoques. Foi várias vezes contactado para dar conselhos e opiniões, e a todos disse para não se meterem nos tratamentos de eletrochoques. “Queriam ir pelas mesmas razões que eu, mas outros eram por razões mais complicadas. Eram filhos de famílias e herdeiros de fortunas e os pais podiam deserdá-los se não mudassem a sexualidade”, disse Serzedelo. Queriam mudar quem eram para ter perspetivas de futuro.
Entre os vários casos de violência familiar com que contactou, a maior parte eram ameaças de os tirarem da universidade, e há dois que ainda hoje retém na memória: o de um “homem cujos pais o mandavam para o galinheiro de castigo por saberem que era gay” e de um outro que precisava de “remédios diários para uma doença que tinha e os pais não lhe davam dinheiro para ver se ele morria de morte natural”. “Assim a herança ficava toda para o filho que era hétero”, recorda com pesar.
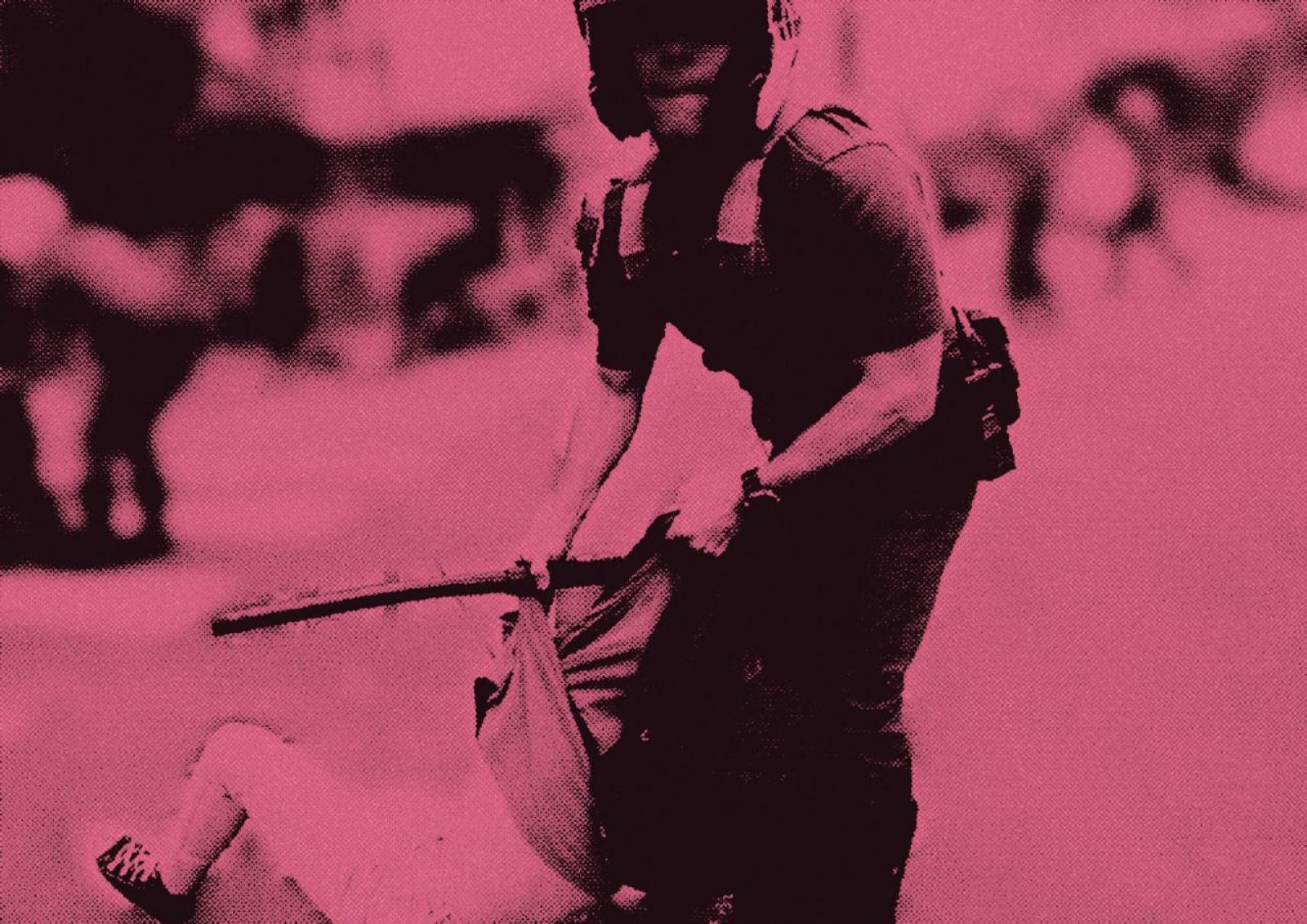
O Estado Novo via a homossexualidade como uma doença e uma ameaça aos valores e moral da sociedade, à família tradicional como um dos pilares fundamentais. O regime alinhou com a visão médica predominante na época e, à semelhança da monarquia e da república, perseguiu os homossexuais com a sua criminalização no Código Penal. Oleou a máquina judicial como nunca antes em Portugal.
O primeiro Código Penal a perseguir os homossexuais foi o de 1852, ainda durante a monarquia constitucional, e fazia-o de forma indireta com a formulação de “atentado ao pudor-lenocínio”, explica ao Setenta e Quatro Raquel Afonso, autora do livro Homossexualidade e Resistência no Estado Novo, de 2019. Quem fosse apanhado em flagrante delito arriscava-se a uma moldura penal de prisão correcional de três dias a um ano e a multa correspondente.
A República, apesar dos ventos liberais que trouxe em 1910, não foi diferente com os homossexuais. Foi o primeiro regime a implementar uma lei que enquadrassse da homossexualidade, desta vez com foco no conceito da mendicidade, nomeadamente a quem se dedicava a “práticas de vícios contra a natureza”. A pena era de um mês a um ano num estabelecimento correcional. Mas acrescentou uma nova dimensão: a reeducação.
A criminalização da homossexualidade criou ainda um fenómeno particular de homofobia: os “arrebentas”, pessoas que se aproveitavam da vulnerabilidade legal dos homossexuais para os chantagearem ou roubarem.
A lei de 1912 estabeleceu a criação de uma Casa Correcional de Trabalho e uma Colónia Penal Agrícola: o trabalho forçado deveria corrigir a homossexualidade, trazendo a pessoa para os bons valores da sociedade. A Polícia Cívica de Lisboa, a antecessora da PSP, e a Polícia de Investigação Criminal, detinham os homossexuais e os juízes desta última deliberavam as penas o mais depressa possível. Não havia separação entre os órgãos policiais e os judiciais: não havia testemunhas, o juiz interrogava apenas o detido e o polícia responsável pela detenção, para o processo ser célere.
O Estado Novo, estabelecido pela Constituição de 1933, veio otimizar o sistema, lê-se no livro de Raquel Afonso. Em maio de 1936, o novo regime implementou o Decreto-lei nº26643 que permitiu a individualização das penas a “atos que não constituem ainda um crime, mas são um estado de delinquência, que é igualmente necessário suprimir”. Ou seja, a homossexualidade.
Formaram-se duas classes diferentes de estabelecimentos de detenção: as prisões e os de segurança, com os segundos (manicómios criminais, colónias agrícolas ou de trabalho) a serem destinados aos homossexuais. As penas variavam entre um a seis anos, ainda que pudessem ser prolongados sucessivamente por períodos até dois anos.
Anos mais tarde, em 1954, a ditadura de António de Oliveira Salazar voltou à carga, desta vez com a reforma do Código Penal. As polícias deixaram de poder julgar e aplicar penas e medidas de segurança aos presos, os tribunais passaram a desempenhar essa função, alegadamente para pôr fim ao arbítrio judicial. E a criminalização da homossexualidade é, pela primeira vez, inserida explicitamente na lei: mantêm-se os internamentos em manicómios criminais, em estabelecimentos de trabalho forçado e até a interdição à profissão.
A antropóloga Raquel Afonso consultou mais de 100 relatórios policiais escritos entre 1933 e 1966, a data limite nos arquivos, e concluiu que “o número de homossexuais detidos é muito inferior ao que de facto existia”. “Podiam ser detidas em média 300 pessoas ao ano por homossexualidade. Houve muitos processos destruídos ao abrigo de várias portarias que permitiram a sua destruição”, acrescenta.
A maioria das detenções, continua a antropóloga, era feita “em flagrante delito nos urinóis, vãos de escada de prédios, nas ruas, nos jornais”. “Muitas vezes com polícias à paisana em que o próprio polícia se insinua para determinada pessoa e quando ela avança no sentido de 'ok, vamos fazer este engate', mostram o cartão da polícia e levam-nos para a esquadra”, explica.
Os homossexuais foram constantemente perseguidos pela ditadura e muitos tinham de se esconder, de se auto reprimir, por temerem represálias. Ao mesmo tempo, a visão da época instigava-lhes homofobia internalizada, dava-lhes um desejo de não serem quem eram.
Mas nem todos os homossexuais caiam nas malhas das autoridades. “Os homossexuais das classes mais altas muitas vezes não eram importunados pela polícia, desde que fossem fazendo as coisas sem grande escândalo. Se por acaso fossem apanhados, passavam uma nota por baixo da mesa e iam-se embora, nem havia abertura de processo”, diz.
O mesmo já não acontecia a quem pertencia às classes mais baixas: não tinham rendimentos para terem uma casa mais privada ou para arrendar um quarto e, portanto, restava-lhes apenas espaços públicos, onde ficavam mais vulneráveis ao olhar vigilante das autoridades – os polícias iam para os urinóis, por exemplo, e provocavam engates. “O que se vê nos processos consultados é que a maioria das pessoas detidas são de classes mais baixas.”
A criminalização da homossexualidade criou ainda um fenómeno particular de homofobia: os “arrebentas”. Eram pessoas que se aproveitavam da vulnerabilidade legal dos homossexuais para os chantagearem ou roubarem. Os locais onde os engates se davam eram conhecidos da comunidade homossexual e lésbica e, mais tarde ou mais cedo, acabavam por ser do conhecimento mais geral.
Os arrebentas simulavam engates e, quando apanhavam o outro a sós, atacavam, sabendo de antemão que não seriam alvo de queixa na esquadra por causa do contexto em que o crime ocorria. Há quem diga que os arrebentas eram meros oportunistas, que eram homossexuais que tentavam lucrar com a relação sexual ou polícias que se dedicavam à extorsão e ao suborno.
Os homossexuais foram constantemente perseguidos pela ditadura e muitos tinham de se esconder, de se auto reprimir, por temerem represálias. Ao mesmo tempo, a visão da época instigava-lhes homofobia internalizada, dava-lhes um desejo de não serem quem eram. A opressão na ditadura, diz Raquel Afonso, não foi apenas política e social: foi também sexual.
E nem os ares de liberdade do 25 de Abril de 1974 puseram fim à criminalização da homossexualidade: foi preciso esperar pela revisão do Código Penal de 1982 para que assim fosse. As palavras do general Galvão de Melo, do Conselho da Revolução, excluíram logo uma parte da população reprimida pela ditadura: “O 25 de Abril não se fez para putas e paneleiros”.