
Manifestantes sobem a um blindado do exército, na Praça Tahrir. Cairo, Egito. 29 de janeiro de 2011. [Foto: Ramy Raoof]
Vincent Bevins: a década de 2010 mostrou-nos que governos “podem ser derrubados por insurreições inesperadas vindas das ruas”
O jornalista norte-americano fez uma história global dos protestos de massas na década passada e colocou o Brasil no centro da narrativa. Viajou por 12 países e entrevistou mais de 200 pessoas para perceber o que aconteceu e que conclusões podemos tirar das "grandes derrotas e pequenas vitórias" desses anos.
Depois de contar a história da “cruzada anticomunista de Washington” partindo dos massacres na Indonésia em 1965 e 1966, em O Método Jacarta, o jornalista e escritor californiano Vincent Bevins regressa com um tomo de “história condensada”: If we burn: the mass protest decade and the missing revolution. É uma história global, em ordem cronológica, dos protestos de massas que abalaram o mundo entre 2010 e 2020, e da revolução que nunca chegou. Centra a narrativa em São Paulo, “como se o mês de junho de 2013 no Brasil fosse o elemento mais importante” da narrativa.
Bevins estava lá. Vivia no país há alguns anos, onde trabalhava como correspondente estrangeiro. Viu a cavalaria da Polícia Militar carregar sobre os manifestantes, alguns seus amigos ou conhecidos. Foi gaseado. Reparou, também, e nota-o no livro como um presságio, nos primeiros manifestantes vestidos com a camisola da seleção brasileira, que nos anos seguintes se tornou num símbolo infame do bolsonarismo.
É difícil, senão impossível ou até em parte inútil, resumir junho de 2013. Mas podemos tentar. Um momento de insurreição popular alargada que começou com o Movimento Passe Livre (MPL), na sua luta por transportes públicos gratuitos, e que depressa escapou das mãos desses punks “horizontalistas”. Depois da proliferação de imagens de brutalidade policial nos protestos, mais de um milhão de brasileiros saíram às ruas. O ímpeto contestatório acabou apropriado por movimentos neoliberais, nacionalistas, alinhados à direita e financiados por instituições norte-americanas: o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua.
“Para entender junho de 2013 teria de o colocar num contexto global”, explica Bevins em entrevista ao Setenta e Quatro. “A explosão no Brasil, nesse ano, não teria tomado o caminho que tomou se não tivesse sido interpretada como semelhante a outras que aconteceram anteriormente nessa década”, isto é, a chamada “Primavera Árabe”, que começou na Tunísia e se espalhou para países como o Egito, a Líbia ou o Iémen.

O “repertório de contenção” (conjunto de táticas e modos-de-agir de uma dada população perante o abuso de poder de uma elite) vai sendo replicado no resto da década, mais ou menos consciente ou organicamente, adaptado à realidade e às condições de cada país. E Bevins leva-nos nesta viagem à volta do mundo em dez anos: Egipto, Brasil, Ucrânia, Hong Kong, Indonésia. Mostra-nos que, mesmo que não haja “nada de natural nas maneiras como respondemos a injustiças”, a vontade de mudança é global e imparável.
Há grandes derrotas e pequenas vitórias, o papel sentencioso de uma classe de jornalistas a tentar fazer sentido de um “hiperobjeto”, a desilusão com as redes sociais e aquilo que a Internet poderia ter sido, e a prevalência da anti-política, sintoma que o jornalista norte-americano nota como o mais pernicioso da também global crise de representação política.
Bevins, que considera que ainda “há muitas contradições” da década passada que “se estão a resolver”, deixa a páginas tantas um recado: “olhando para os anos de 2010 a 2020, é evidente que houve um enorme de desejo de mudanças nas estruturas que compõem o nosso sistema global, e que esta energia pode muito bem ser libertada novamente em breve”.
Porquê fazer uma história global de sublevações populares ao longo de uma década fazendo também o seu rescaldo?
Tal como muitos dos que viveram os eventos de junho de 2013 no Brasil, interessei-me pela evidência de uma explosão mundial de protestos de massas e as suas consequências indesejadas precisamente há dez anos. Não só estava preocupado com o que aconteceu nesse mês no Brasil, como passei a prestar especial atenção, durante o resto da década, ao desenrolar de outros eventos por todo o mundo que pareciam ser, de alguma maneira, análogos ao que havia acontecido em junho de 2013. Olhava para esses momentos com uma mistura de medo e ansiedade. Pensava: "espero que não corra da mesma maneira que em junho de 2013". Algumas vezes correu, outras não.
Quanto mais pensava sobre junho de 2013, foi-se tornando claro para mim — e para outros jornalistas a quem foi delegada a tarefa difícil de cobrir esses acontecimentos — que a explosão no Brasil não teria tomado o caminho que tomou se não tivesse sido interpretada como semelhante a outras que aconteceram anteriormente nessa década: a dita "Primavera Árabe", que começou na Tunísia em 2010 e rapidamente se espalhou para o Egipto e outros países da África do Norte e da Ásia Ocidental.
Então, cheguei à conclusão que para entender junho de 2013 teria de o colocar num contexto global. Os eventos desse mês não fariam sentido fora de um conjunto de fenómenos históricos mundiais. Assim, decidi fazer duas coisas ao mesmo tempo: colocar junho de 2013 no contexto da História global e contar a História do mundo de janeiro 2010 até janeiro de 2020, como se o mês de junho de 2013 no Brasil fosse o elemento mais importante dessa História.
Considerei impossível contar a história de junho de 2013 sem o colocar no contexto da década em que aconteceu. Ao mesmo tempo, pensei que poderia contar a história da década inteira escolhendo uma das estranhas explosões de protestos de massas e as suas consequências inesperadas, e usá-la como a estrutura narrativa principal, ao redor da qual poderia construir a história do resto da década. É a história global de junho de 2013, mas também é a história dos anos 2010 com junho de 2013 como evento central.
Quando chegamos a junho de 2013, já há algumas narrativas mediáticas estabelecidas sobre a "Primavera Árabe". Estas narrativas acabam, então, a ser aplicadas ao que se passou no Brasil, para tornar os acontecimentos mais compreensíveis aos públicos europeus e norte-americanos: chamam-lhe a "primavera brasileira". O que crê ter sido problemático na cobertura mediática destes eventos? Isso influenciou a sua vivência e o relato dos acontecimentos?
Coloquei-me neste livro mais do que n'O Método Jacarta. Não porque quisesse estar no livro (até preferia ter ficado de fora) mas porque ao colocar-me na narrativa tornaria clara para o leitor a maneira como os media operam.
Permitir-me-ia apresentar a crítica à forma como os media agiram durante os anos 2010, que creio ser uma parte importante da história. Tal como gostaria de não estar no livro, gostaria que a comunicação social não fosse uma parte tão importante da história.
Lá no fundo, os meus instintos ideológicos e estéticos levam-me a evitar interpretações que dêem demasiada atenção aos media. Prefiro explicações materiais, estruturais. Mas quanto mais olhava para a década, mais percebia que não se pode evitar o papel que os media assumiram.
Ficou claro ao longo da minha investigação que durante os anos 2010 houve uma reação particular às injustiças e aos abusos cometidos pelas elites ou pelos governos. Essa reação torna-se hegemónica e chega até a parecer natural. Cria-se aquilo a que se chama na literatura sociológica um "repertório de contenção", um conjunto de ações que se podem tomar contra governos ou elites que estejam a abusar de cidadãos ou populações: protestos de massas em praças e outros espaços públicos, aparentemente espontâneos, coordenados digitalmente e organizados horizontalmente.
Por vezes, diz-se que estes protestos prefiguraram a sociedade que desejavam construir. Ainda que, como disse, isto pareça natural no início dos anos 2010, cada um dos ingredientes desta receita vem de algures. Tentei traçar os precedentes históricos e ideológicos para cada um deles.
Entrevistei mais de 200 pessoas em 12 países. Muitas dessas pessoas concluíram que este repertório de contenção particular criou explosões de contestação popular especialmente vulneráveis a representações mediáticas. E que criaram, regularmente, imagens e cenas muito poderosas, fundamentalmente difíceis de interpretar ou mesmo ilegíveis para observadores externos. Então, o que aconteceu amiúde, segundo alguns dos entrevistados, foi que estas explosões acabaram por ganhar um significado que lhes foi imposto pelas pessoas com os maiores altifalantes: os órgãos de comunicação social corporativos de língua inglesa.
Este é um dos paradoxos dessa década: a cobertura mediática acabou por influenciar a ação nas ruas, em vez de simplesmente a representar para o resto do mundo; os media tornaram-se atores.
Há um outro lado desse fenómeno: quando lhe foi delegada a importante e difícil tarefa de interpretar estas explosões, a minha classe — correspondentes estrangeiros, especialmente os de língua inglesa — falhou. Não tínhamos os recursos materiais e ideológicos para levar a cabo essa tarefa essencial. Tínhamos uma, duas, três horas para explicar o que estava a acontecer na Praça Tahrir ou nas ruas de São Paulo. Muitos desses correspondentes não entendiam o país onde estavam a trabalhar. Alguns, e deve ser dito quer o admitamos ou não, estavam a pensar mais em salvar as suas carreiras precárias e a ponderar o que daria ou não uma "boa história", o que daria mais likes, retweets e partilhas, ou o que faria os seus editores felizes.
Começando na Tunísia, em 2010, e depois no Egito em 2011, as pessoas como eu viram o que queriam ver naquelas praças. Encontrámos elementos que combinavam com as nossas suposições ideológicas. Encontrámos coisas que confirmavam que a História estava a andar para a frente da maneira que cada um de nós achava que deveria ser, em vez de fazermos análises sérias e profundas dos elementos ali presentes.
Um dos erros foi tentar explicar estas explosões como se fossem todas uma única coisa. Como, por exemplo, se os protestos em Kiev, na Ucrânia, entre 2013 e 2014, fossem sobre um assunto apenas. Enquanto qualquer análise séria daquilo que se passava provaria que, quer fosse Hong Kong em 2019 ou São Paulo em 2013, a configuração das pessoas nas praças e nas ruas alterava-se de dia para dia. Aquilo que as pessoas reivindicavam alterava-se do dia para a noite, às vezes de hora para hora.
Ainda que soe óbvio e até intencionalmente simplista, decidi contar a história da década em ordem cronológica. Queria começar no início e mostrar a maneira como tudo evoluiu ao longo desses dez anos. No livro, cito o filósofo brasileiro Rodrigo Nunes: "se alguém começar uma frase com 'O junho de 2013 foi...' então já está errado". Há uma multiplicidade de coisas a pesar. Então, quis mostrar como as coisas mudaram. E traçar da maneira mais cuidadosa possível essas mudanças num único livro, o que limita, obviamente, a profundidade com que poderia discutir cada um dos casos. Decidi perceber como cada revolta começou, como foi mudando a configuração de forças e a que desfecho tudo isso levou, em cada país.
"'O povo' será sempre uma configuração concreta de humanos reais. Em junho de 2013, não foi 'o povo' que saiu às ruas. Foi um ou dois milhões de brasileiros específicos."
Muitas das pessoas que cita no livro, participantes destes protestos, dizem que no início, sentiam estar a fazer história, mas que rapidamente sentiram os movimentos a fugir-lhes do controlo, tornando-se cada vez maiores. Há algum consenso entre estas pessoas sobre o porquê de os protestos lhes terem escapado do controlo?
O Lucas "Legume" Monteiro, do MPL, disse-me algo que não coloquei no livro, mais ou menos assim: "perder o controlo das ruas sempre esteve nos nossos planos, mas quando realmente o perdemos isso aconteceu numa escala muito maior do que havíamos esperado e não gostámos disso nem um bocadinho".
Aquilo que motivou muitas das pessoas presentes neste livro, e alguns jornalistas, foi a crença profunda de que se "o povo" vier para a rua, atrás de um movimento por uma causa justa, isso será algo necessariamente bom, será o avançar da História com H maiúsculo, será o progresso, o espírito-do-mundo a cavalo.
Aconteceram duas coisas que eu não esperava, porque eu também acreditava nisso. Primeiro, "o povo" será sempre uma configuração concreta de humanos reais. Em junho de 2013, não foi "o povo" que saiu às ruas. Foi um ou dois milhões de brasileiros específicos. Essas pessoas acreditavam em coisas diferentes. Os seus motivos para sair à rua eram diferentes. E isso importa. Não é necessariamente verdade que uma grande multidão seja "o povo" da maneira como o imaginamos. Essas pessoas que saíram às ruas não eram, de todo, "o povo" que o MPL esperava.
Em segundo lugar, disse há pouco que se as pessoas saíssem às ruas lideradas por um movimento por uma causa justa isso seria bom. Acontece que "depois" [after] não é o mesmo que "atrás" [behind]. As pessoas podem sair à rua depois de um grupo de pessoas com uma causa específica, sem estar realmente atrás dele ou com ele. Foi o que vimos em junho de 2013. Vimos isso, de maneira um pouco diferente na capital da Ucrânia. Ao chegarmos a fevereiro de 2014 a configuração de indivíduos na praça Maidan era completamente diferente à de novembro de 2013. Então, muitos desses grupos apostaram sempre em inspirar largos grupos de manifestantes, aparentemente espontâneos e sem líderes, para que saíssem às ruas depois deles, assumindo que tomariam o seu rumo.
Podemos perceber por que razão isto não foi rigorosamente analisado. O repertório de contenção particular desta década (os movimentos de massas aparentemente espontâneos, coordenados digitalmente e organizados horizontalmente), organizado subconscientemente através de diversos processos, não foi pensado para derrubar ou destabilizar regimes ou governos. Então, muitos dos organizadores regionais ficaram chocados pelo número de pessoas que acabou por sair à rua, mesmo que esperassem que ficassem maiores. O tamanho real da explosão de contestação chocou até o organizador mais otimista. No Egipto, em janeiro de 2011, os organizadores do protesto original riram-se da ideia de tomarem a Praça Tahrir. Nem sequer tinham planeado pedir a demissão do [presidente] Hosni Mubarak. E três dias depois tinham nas mãos o controlo da cidade do Cairo.
A tragédia e o paradoxo no centro da história desta década é o sucesso inesperado de um repertório de contenção particular que gerou oportunidades que não estavam planeadas e para o qual esse repertório de respostas às injustiças era pouco adequado.
"Não há uma configuração natural para as redes sociais, nem razão para aceitar como natural que o mundo digital seja dominado por um pequeno número de bilionários dos Estados Unidos."
Descreve estes protestos como "digitalmente coordenados". Em 2021, publicou um artigo sobre a Internet enquanto ferramenta do imperialismo americano, tomada pela hegemonia das firmas de redes sociais. Essa visão foi de alguma forma inspirada pelo papel que viu as redes sociais tomarem durante esta década de protestos?
Nesse artigo tentei explorar a maneira como a nossa presença online e a nossa vida digital são profundamente influenciadas e constantemente moldadas por empresas norte-americanas, normalmente da Califórnia, com fins lucrativos, que operam de uma forma específica — não necessariamente a única maneira como a Internet poderia ter sido construída ou deve continuar a existir a longo prazo.
Eram possíveis muitas outras "internetes". O tipo de medias sociais que tivemos no início dos anos 2010 não era o único possível. A própria Internet, a infraestrutura literal, foi construída pelas forças armadas dos EUA no auge da Guerra Fria, sendo depois privatizada no pico da hegemonia neoliberal anglófona, no momento da História global em que as suposições neoliberais foram fortemente assumidas pelo país mais poderoso do mundo.
Tudo isso importa. Podemos imaginar muitas outras formas que a Internet poderia ter tomado tivesse sido construída por outro país, ou mesmo nos EUA do keynesianismo. Se a Internet tivesse sido construída num momento ideológico diferente da História dos EUA, então poderia ter sido encarada como serviço público a ser regulado pelo governo, por exemplo.
O que temos, então, no início dos anos 2010, é uma estranha contradição que lentamente se resolve ao longo da década. De um lado, ainda que seja difícil relembrá-lo agora, há a crença generalizada que diz que se algo aconteceu por causa da Internet, especificamente através das redes sociais, então isso é necessariamente bom e, por definição, progressista. Curiosamente, era tomado como necessariamente progressista por pessoas com opiniões completamente diferentes sobre o que é o progresso. Mas havia essa posição, especialmente no mundo anglófono, que algo saído das redes sociais tornaria a sociedade mais transparente, mais democrática, empurrando a História para a frente.
Mas a realidade é que todas estas imagens de brutalidade policial, de revoltas populares no mundo árabe, não estavam a ser colocadas no abstrato, mas nos servidores de empresas específicas dos EUA, com fins lucrativos, que criaram redes sociais cujo propósito é manter as pessoas coladas aos seus telemóveis ou computadores tanto tempo quanto possível, para que outras empresas com fins lucrativos lhes possam vender produtos.
Lentamente, fomos entendendo ao longo dos anos 2010 que este tipo particular de ambiente digital construído por estas redes sociais poderia ser usado por qualquer um: "forças progressivas", oligarcas, empresas, governos. Hoje, em 2023, os media anglófonos mainstream assumiram o exato oposto dessa ideia. A reação automática dos media anglófonos liberais, ao ver uma multidão de pessoas tomar a capital de um determinado país por causa de algo que viram nas redes sociais, é pensar: "isto é um problema".
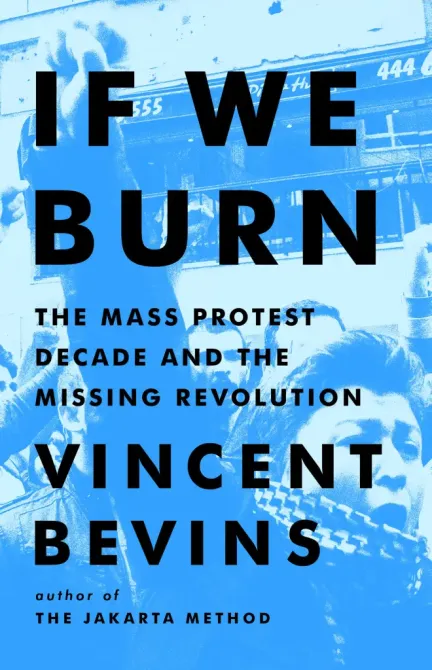
A minha explicação para esta reversão é que o sonho da Internet que podíamos ter tido nos foi roubado por oligarcas (a maioria naturais do meu estado natal da Califórnia). Temos o direito, a longo prazo, de a reclamar para nós. A Internet como a entendemos só existe há algumas décadas.
Tal como não há nada de natural nas maneiras como respondemos a injustiças, certamente não há uma configuração natural para as redes sociais, nem razão para aceitar como natural que o mundo digital seja dominado por um pequeno número de bilionários dos Estados Unidos.
O livro destaca a organização horizontal dos movimentos que iniciaram alguns dos protestos e celebra a ambição desse horizontalismo, embora o encare com algum pessimismo.
Ao longo dos anos 2010, vimos tanto horizontalismo como horizontalidade. Em alguns casos, como o do MPL no Brasil, havia a crença consciente de que uma estrutura horizontal era a melhor maneira de organizar um movimento social e como processo para melhorar a sociedade.
Depois, houve outros momentos: no Egito, em 2011, muitos dos organizadores originais do que depois se tornou a insurreição de 25 de janeiro teriam adorado ter um partido revolucionário, algum tipo de vanguarda ou um largo e organizado movimento sindical que pudesse ter agido autonomamente e ajudado a criar um governo revolucionário. No caso do Egipto, simplesmente não havia.
Então, essa horizontalidade veio como resultado da exterminação concreta das estruturas e organizações de esquerda da sociedade civil egípcia, nas décadas anteriores, sob o neoliberalismo económico do regime de Mubarak.
Nos anos 2010, há estas duas forças materiais e ideológicas que se juntam para criar diversos níveis de horizontalidade nas ruas. Por vezes isso era intencional, por vezes não. Mas, em maior ou menor grau, assistimos recorrentemente a manifestações horizontais. Então, isto combinado, mais uma vez, com a estranha forma como uma tarefa importantíssima foi delegada estúpida e injustamente a pessoas como eu [correspondentes estrangeiros], fez com que os atores dos media globais vissem nestas manifestações aquilo que queriam ver.
A horizontalidade foi muitas vezes interpretada pelos media globais como algo que teria, necessariamente, de seguir o caminho que queriam, porque não havia ninguém à frente dos movimentos que dissesse: "queremos isto, queremos aquilo". Então, aquilo que, mais tarde, muitas das pessoas que entrevistei relembram como uma fraqueza foi tomado pelos media globais como uma qualidade.
Voltando ao caso do Egipto, muitas das pessoas que ajudaram a formar as insurreições de 25 e 28 de janeiro conheceram-se através de organizações pró-Palestina ou da contestação à invasão do Iraque pelos EUA, em 2003. Para estas pessoas, se tivesse havido uma organização revolucionária capaz de elaborar os seus objetivos e comunicar os seus desejos de um projeto de democracia para o seu país, esta teria sempre sido, por necessidade, anti-imperialista e teria sempre de desafiar os aliados de Washington naquela região, Israel e a Arábia Saudita.
Mas, por causa da aparente espontaneidade e ausência de líderes nos protestos na Praça Tahrir, pessoas da CNN, do New York Times, dos media globais, puderam aparecer e — para espanto dos revolucionários originais — descrever aquela insurreição como algo pró-ocidente, como um grupo de pessoas que queriam juntar-se ao Ocidente como sócios minoritários, e não como movimento que queria desafiar a configuração de poder naquela região e, até, no sistema global.
Ao mesmo tempo, naquilo que entendemos como o Ocidente, com as suas democracias liberais consolidadas, não há partidos revolucionários, o sindicalismo está limitado e as manifestações resumem-se a atos aos quais, como diz no livro, as pessoas "vão para serem contadas". Que tipos de ferramentas ou modos de ação ficaram da década passada?
Não há uma resposta natural à injustiça. Em momentos de reação a abusos cometidos por elites, as pessoas fazem o que sabem, aplicam as táticas que já aprenderam, mesmo que algo diferente possa resultar melhor. As pessoas não geram espontaneamente as formas mais eficazes de resposta à injustiça.
O meu livro é sobre um conjunto particular de táticas, aquela que tenho vindo a descrever uma e outra vez. Se, de facto, entre 2010 e 2020, mais seres humanos participaram em protestos que em qualquer altura da História humana — são números difíceis de calcular — fica claro que há um grande desejo de obrigar o sistema global a mudar. Há um grande número de pessoas dispostas a correr riscos e a agir para mudar as coisas. Se, de facto, o problema reside nas táticas, então aquela que é uma história aparentemente pessimista pode tornar-se rapidamente otimista.
Estamos, no fundo, a falar de um processo de aprendizagem através do qual as pessoas aprendem que há um desencontro entre as táticas e os objetivos. Então, alinhar as táticas e os objetivos, alterando a receita, é muito mais fácil que criar o desejo de mudança no sistema global. Se, de facto, é um problema tático, então pode ser resolvido.
Quando falamos de algo tão difícil e perenemente desafiador — cada geração que já existiu teve de lidar com a questão de como mudar ou melhorar a sociedade —, quando lidamos com algo desse tamanho, então creio que se conseguirmos identificar um problema, especialmente um que é relativamente superável como esse desalinhamento entre táticas e objetivos, então acredito que já estamos a começar otimisticamente.
Seria muito mais difícil se esta análise apontasse para a conclusão, afinal, que o povo não consegue derrubar governos ou simplesmente não quer agir. Os anos 2010 provam que muita gente quer agir, que governos aparentemente sólidos podem ser derrubados através de insurreições inesperadas vindas das ruas. Se, de facto, é uma questão de alinhar as táticas e os objetivos, então é algo que pode ser trabalhado. Temos de reunir com os nossos semelhantes e começar a trabalhar para isso. Tem sido sempre a única ação possível.
"Javier Milei é mais um capítulo desta longa história. E deve ser visto como uma resposta a uma crise de representação absolutamente real, espalhada pelas democracias globais."
Aborda a anti-política no início do livro. De certa maneira, encadeia o impeachment de Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro como algo consequente do 13 de junho no Brasil. Hoje, voltamos a assistir à convergência de diversos movimentos de contestação em diversas partes do mundo: estudantil, climático, sindical, pró-Palestina. E também à eleição de mais um populista de extrema-direita, desta vez na Argentina. A História está a tornar-se repetitiva?
Acho que isso é tanto a força como o perigo de se escrever um livro sobre um passado muito recente. A década sobre a qual escrevi acabou somente há três anos. Não é surpreendente que ainda estejamos a assistir ao contínuo aparecimento de muitas das dinâmicas descritas no livro. Ainda há muitas contradições que se estão a resolver. Três anos é muito pouco tempo quando falamos sobre a busca por mudança no sistema global.
Vejo Javier Milei como mais uma instância da onda global anti-política, que é central a muitas das histórias no livro. Esta onda global talvez tenha começado no meu estado-natal da Califórnia, com a eleição de Arnold Schwarzenegger para governador, em 2003.
Vemos a aceleração deste tipo de fenómeno político após a crise financeira de 2008. Há o [palhaço] Tiririca no Brasil em 2010, o M5S na Itália em 2013, Donald Trump nos EUA em 2016, Emmanuel Macron em França em 2017, Jair Bolsonaro no Brasil em 2018, Volodymyr Zelensky na Ucrânia em 2019. Há tantas instâncias de indivíduos eleitos porque dizem que vêm de fora do sistema ou que toda a gente dentro do sistema é um palhaço.
Milei é mais um capítulo desta longa história. E deve ser visto como uma resposta a uma crise de representação absolutamente real, espalhada pelas democracias globais. As pessoas crêem, com razão, que os governos não as representam da maneira que devem representar.
Historicamente, apanhar um tipo que diz vir de fora do sistema e que vai partir tudo termina em desastre na maioria das vezes. E também acaba com a eleição, quatro anos mais tarde, de uma figura normal do sistema. Não ultrapassámos a crise de representação política que é tratada no livro como central. Ainda vivemos nas mesmas estruturas de media sociais em que vivíamos nos anos 2010.
Não é surpreendente ainda estarmos a assistir ao renascer dos mesmos fenómenos, saídos das mesmas contradições. Se o mundo já tivesse mudado inteiramente, não acharia que seria necessário publicar este livro. Digo isto amiúde, mas a razão por que mais de 200 entrevistados se sentaram comigo foi porque acreditavam que um processo de aprendizagem tirado dos acontecimentos dos anos 2010 não era automático, que valia a pena sentar um bocado e partilhar estas histórias de uma dúzia de países diferentes, para que algum tipo de reflexão comparativa pudesse ter início, para que os leitores deste livro pudessem começar a perceber como gostariam de seguir em frente, saídos da década de 2010.



