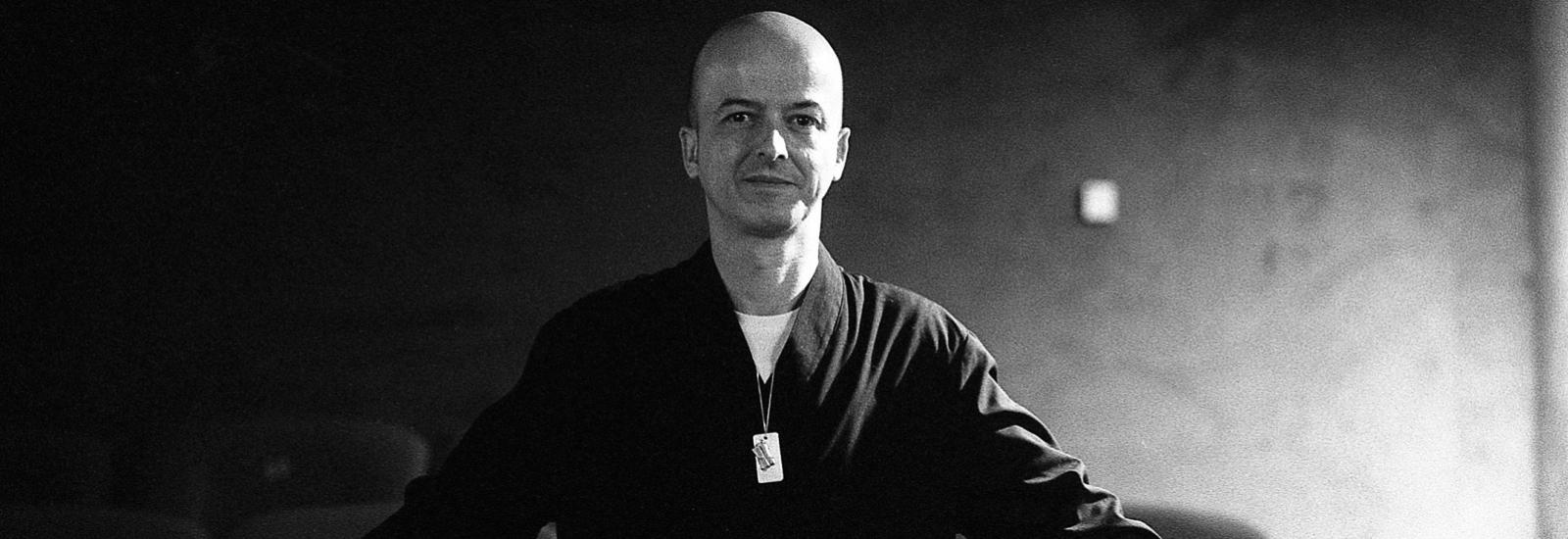
Foto: Charles Petri
João Ferreira: Passados 27 anos, levar o cinema queer para o centro da cidade ainda é uma afirmação política
O diretor e programador do Festival Queer entende o cinema como um espelho da sociedade que nos permite rever noutras histórias de vida, humanizando-as e criando redes de empatia. “Chegou o momento de pôr em causa as histórias oficiais, porque muitos indivíduos foram deixados de fora delas.”
O Queer Lisboa, por extenso o Festival Internacional de Cinema Queer de Lisboa, vai este mês para a sua vigésima sétima edição. Em outubro, começa a sétima edição da sua iteração portuense, o Queer Porto. Este ano, o festival propõe-nos que projetemos um olhar queer ao cinema e às realidades além-fronteiras através dos “olhares pertinentes e verdadeiros” de criadores de outras coordenadas.
Quem o diz é João Ferreira, diretor do festival desde 2005, em conversa com o Setenta e Quatro. Houve o cuidado em escolher filmes que ajudassem o espectador a “empreender um esforço de deslocalização”. A ideia é levar-nos a exercitar a empatia pelo que nos está distante, dando voz a histórias marginais, a comunidades apagadas e a vivências reprimidas.
Considerando que a continuada presença do festival no seio da Avenida da Liberdade, no Cinema São Jorge, em Lisboa, ainda é uma afirmação e uma “tomada de posição”, Ferreira sublinha o cunho político do Queer. Para o diretor e programador, isso é visível desde a construção do festival enquanto espaço comunitário de celebração e partilha, até à própria programação dos filmes apresentados. A filmografia apresentada também espelha uma particular preocupação com o crescimento da extrema-direita e das narrativas homofóbicas e transfóbicas na política institucional.
Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.
É possível traçar uma história social, cultural e política da capital, se quisermos, ao acompanhar a evolução do Queer Lisboa, que existe desde 1997. Como têm sido estas décadas? Houve dores de crescimento?
O Queer Lisboa passou por muitas dores de crescimento. O seu percurso foi curioso, sendo o primeiro festival de cinema da cidade de Lisboa. Não é comum vermos isso numa capital: o primeiro festival ser, como se chamava na altura, um festival de cinema gay e lésbico.
Isso marcou desde o início a programação do festival. Tínhamos, virtualmente, todo o cinema dos circuitos dos festivais à nossa disposição. Desde a primeira edição, portanto, o festival ganha uma característica particular, incomum nos festivais de cinema gay e lésbico da altura: uma enorme abrangência cinematográfica. De François Ozon a Werner Schroeter, passando por Pedro Almodóvar.
Dialogámos sempre com um conjunto de cineastas que não faziam necessariamente parte dos programas desses festivais. Isso permitiu-nos entender o cinema queer de uma outra forma. Sempre nos preocupámos mais em ter um modo de olhar queer sobre o cinema do que em fazer questão que a narrativa principal de um filme envolvesse personagens gays, lésbicas ou trans. E também deitámos esse olhar sobre a história do cinema. Voltámos atrás, aos clássicos, e fizemos releituras desses filmes.
Fomos sempre acolhidos pelas instituições. Desde o início que fizemos sessões na Cinemateca e cedo tivemos o apoio da Câmara Municipal de Lisboa (CML), tendo havido várias sessões nas salas que a Videoteca Municipal de Lisboa tinha nessa altura.
Não tínhamos muito dinheiro, mas esses "selos" legitimaram, perante o público, a existência de um festival de cinema deste tipo. Ainda no final dos anos 1990, muita gente questionou, mesmo realizadores que tinham os seus filmes no programa, se fazia sentido um festival de cinema com esta orientação.
Na altura da oitava edição, estávamos no antigo Cinema Roma, no Fórum Lisboa. A CML, sob o executivo de Pedro Santana Lopes, propôs-nos uma alteração ao nome do festival: "Festival das Diversidades". Não aceitámos. Politicamente, só fazia sentido manter o nome, apesar de o termos alterado poucos anos depois. Foi-nos retirada a sala e o apoio da câmara. Entrámos para o Cinema Quarteto, que estava decrépito, mas que tinha quatro salas. Foi uma grande aprendizagem em termos de programação, e foi bom dar oportunidade de escolha ao público.
Já na décima edição fomos para o Cinema São Jorge. Entretanto, entraram as competições, novas secções, e os apoios regularizaram-se. O Queer começou a ganhar uma estrutura de festival internacional de cinema, aquela que tem hoje. Adaptámos o festival a uma realidade audiovisual diversificada, que se intensificou na última década, onde é mais fácil e barato fazer cinema, e há mais opções de escolha. Há 27 anos, eram poucos os títulos por onde escolher. Muita coisa ficava de fora.

As salas de cinema têm, obviamente, um papel central na organização de um festival. Como é que o Queer tem olhado para o desaparecimento das salas independentes ou não-comerciais?
Quando vim viver para Lisboa, em 1991, as salas independentes de cinema tinham muita importância. Havia um vigor enorme na distribuição de cinema independente, a par com o comercial. As salas entraram em grave declínio na última década. Temos o Ideal em Lisboa, o Trindade no Porto, alguns cineclubes, e pouco mais que isso. As plataformas digitais mudaram a forma como se vê cinema.
Curiosamente, os festivais ganharam com isso, deu-lhes um novo fôlego. Passaram a ser, para muitos distribuidores e criadores, o único sítio onde há a possibilidade de mostrar os seus filmes numa sala, que é onde os filmes devem ser mostrados. Nos tempos difíceis da pandemia não quisemos fazer o festival online. Preferimos não o fazer. Felizmente conseguimos fazer em sala, apesar das fortes restrições.
A experiência de ver um filme em sala é absolutamente fundamental. E num festival de cinema queer há um cunho político: juntar as pessoas, num espaço que criamos e em comunidade, para ver cinema.
O festival tem sentido os constrangimentos da austeridade nas políticas culturais?
Os maiores apoios que recebemos chegam da CML e do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). Felizmente, da parte do Ministério da Cultura, ao qual pertence o ICA, o apoio tem sido estável nos últimos anos. Isso, lamentavelmente, não acontece no resto das artes.
Trabalhamos e colaboramos com outros festivais ligados às artes performativas — e, pessoalmente, conheço bastantes profissionais — e as coisas, nessa áreas, não estão nada fáceis. Apesar de tudo, os festivais têm conseguido garantir a estabilidade necessária para, pelo menos, fazê-los nos moldes desejados.
O apoio dos parceiros privados também tem mudado. Há duas décadas e meia, poucas marcas queriam estar associadas a um festival queer, mas agora já não se coloca esse problema. Por vezes, até acontece o problema oposto, e que nos deve deixar cautelosos: por vezes, as marcas querem associar-se para beneficiar a sua imagem. Temos de avaliar o possível pinkwashing dos apoios que recebemos. É uma realidade bastante óbvia em termos publicitários.
Fazer o Queer no São Jorge, na Avenida da Liberdade, ainda é um ato de afirmação?
Sim, e de afirmação política, sem dúvida. Não faria sentido a existência de um festival como este sem ser político. Os filmes que escolhemos e passamos têm afirmações políticas. Levar estas obras, estas vozes, para o centro da cidade é uma tomada de posição.
A questão da centralidade sempre se colocou. É um lugar de visibilidade, de fala. Desde as antigas pólis gregas que estar na cidade é ter direito a estar, a falar. Não por acaso durante muitos anos a marcha do orgulho LGBTI+ foi remetida para o parque de Monsanto.
"A experiência de ver um filme em sala é absolutamente fundamental. E num festival de cinema queer há um cunho político: juntar as pessoas, num espaço que criamos e em comunidade."
Com os apoios privados e institucionais, nunca houve o medo de que o festival sofresse uma tentativa de "domesticação"?
O festival nunca sofreu tentativas de manipulação através do financiamento. Por estarmos atentos a isso, nunca se desenvolveu esse tipo de diálogos. Tirando esse período complicado da relação com a CML, durante o executivo de Santana Lopes, e que considero ter sido uma tentativa de branqueamento do festival, em termos institucionais terá acontecido somente de forma esporádica.
Houve oposição à projeção de filmes específicos, mas isso tem sempre que ver com questões políticas e pode acontecer em todos os festivais. A partir do momento em que há vozes políticas nos filmes, há reações dos espectadores e dos patrocinadores.
Apesar de tudo, tem havido uma relação de evolução, por parte dos patrocinadores, no sentido de tentar perceber como estar neste evento, que postura adotar. Nota-se que há vontade em estar de forma ética no festival.
Pensar no chamado "cinema queer" é pensar em obras que se colocaram nas vanguardas das linguagens e narrativas cinematográficas das últimas décadas, que depois vão sendo incorporadas no cinema mainstream. O Queer esteve sempre atento a elas, especialmente no cenário português. Tem sentido, a partir do trabalho de programação do Queer, diferenças na maneira de fazer cinema em Portugal?
Completamente. Aliás, criámos a secção Queer Art para dar resposta a isso, para dignificar esse cinema que explora narrativas inconvencionais e, sobretudo, não-lineares, com um cariz experimental. Sempre nos preocupámos em abrir espaço, inclusive, para a história desse cinema. Este ano, em Lisboa, fazemos uma retrospetiva sobre a obra de Yvonne Rainer e no Porto sobre o cinema no-wave de Nova Iorque.
Acredito no poder de sugestão das imagens, da subtileza, no engajamento do espectador. Interessa-me que seja pedido um esforço ao espectador na leitura de um filme, para tirar dele o que procura, recebendo de volta aquilo que projeta para o ecrã. O cinema experimental é aliciante de programar, de pô-lo em diálogo com os restantes filmes, enquadrá-lo com narrativas mais convencionais.
Em relação ao cinema nacional, houve uma mudança drástica. Há muitos jovens realizadores a trabalhar temáticas queer de forma mais experimental e isso tem sido gratificante de ver.
Outro ponto importante: cada vez mais vamos vendo criadores queer a contar as suas histórias. Durante muito tempo — particularmente em Hollywood — eram sempre realizadores ou realizadoras cis-heterossexuais a falar sobre história LGBT. Isso mudou. E a própria linguagem do cinema queer ficou diferente.
Na nota de imprensa é dito que a presente edição do Queer pretende "fazer justiça a um olhar queer, não polarizado, e além-fronteiras". Quão importante é, para o festival, a inserção de linguagens e narrativas mais marginais na programação?
Escrevi esse texto pensando na reflexão que tem vindo a ser feita sobre a nossa tendência ocidentalizada, e eurocêntrica, de olhar o mundo. O cinema também deitou esse olhar. Os cinemas norte-americano e europeu vão para outros países filmar outras realidades.
Então, temos procurado entender como, em determinadas geografias — na Ásia, em África, na América Latina —, os criadores desses lugares se veem e olham para a sua sociedade, para as suas histórias. Seja na ficção ou no documentário, queremos entender como escolhem o que querem contar e mostrar. Isso altera a nossa perceção dessas realidades, porque é um olhar novo e livre dos pesos das referências ocidentais sobre o mundo.
O cinema queer tem tentado quebrar essas fronteiras. Em geral, todos os festivais de cinema têm tentado estar atentos a estes filmes. É quase uma procura de uma verdade. É importante, por exemplo, que sejam as pessoas trans a contar as suas histórias, seja como atores, realizadores, argumentistas. São olhares pertinentes e verdadeiros sobre realidades específicas que não vêm de fora e não correm o perigo da exotização.
O Queer presta um papel comunitário ao celebrar abertamente temáticas, vivências e experiências LGBTIA+. Há uns anos, a memória e a história queer foram um dos temas centrais do festival. O cinema e as outras expressões artísticas ajudam-nos a suprimir os vazios da história queer, fortalecendo a ideia de comunidade?
O cinema — e o audiovisual e a imagem — tem ainda um papel transformador. Enquanto espetador, é transformador ver estas histórias representadas no ecrã. O cinema é um espelho, permite-nos rever-nos noutras histórias, compreendermos quem somos e a sociedade em que vivemos. Ajuda-nos a construir identidades e relacionar-nos uns com os outros.
Tem uma capacidade de fortalecimento de comunidades. Sou muito cético, mas acredito no poder comunitário do cinema. Assisti a isso. Acredito que continue a ter esse papel para as novas gerações. Seja como criadores, seja como espectadores. O cinema tem uma capacidade ímpar de humanização, pela sua acessibilidade, não sendo tão abstrato quanto outras artes.
Interessa-me, também, a construção de histórias sobre o passado. A maneira como construímos narrativas sobre nós mesmos, o sítio onde vivemos, ou narrativas mais globais, nacionais, políticas. Chegou o momento de pôr em causa as histórias oficiais, porque muitos indivíduos foram deixados de fora delas, e por alguma razão. Não eram convenientes para a construção dessas ideias de identidade.
Os movimentos pós-coloniais estão a fazer esse trabalho, e bem. É preciso desfazer essas histórias oficiais para chegar mais perto de algum tipo de verdade. Serão sempre construções narrativas, mas serão verdades pessoais de quem as constrói, transformando-se aos poucos em verdades coletivas. É fundamental, neste momento, olharmos para todas as histórias com outras perspetivas. E com independência desse quadro referencial em que fomos todos educados.
"É importante que sejam as pessoas trans a contar as suas histórias, por exemplo. São olhares pertinentes e verdadeiros, sobre realidades específicas, que não vêm de fora e não correm o perigo da exotização."
No ano de 2005, enquanto decorria o festival, um partido de extrema-direita promoveu em Lisboa uma manifestação contra "a promoção da homossexualidade e a crescente influência do lóbi gay", atacando o Queer Lisboa. Na altura, a manifestação e as teorias conspirativas evocadas pelos manifestantes foram ridicularizadas. Passados quase 20 anos, os pânicos morais sustentados pela homofobia e pela transfobia tornaram-se táticas oficiais de diferentes movimentos e partidos. É uma preocupação para si? Perpassa para a programação do festival?
Procuramos responder a essa preocupação com os filmes que programamos. Selecionamos filmes que falam sobre essa realidade, e dinamizamos conversas onde essa ameaça é debatida. O crescimento da extrema-direita preocupa-me, sem dúvida.
Creio que ainda não percebemos o caminho que levará. Envolve políticas económicas, o medo como tática eleitoral. Nada disto é novo. Mas hoje temos a dimensão assustadora da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Tudo acontece em segundos e há, cada vez menos, a possibilidade da comunicação. É tudo taxativo. Até na política o espaço para o contraditório é cada vez menor. A reação de outras forças políticas, nomeadamente à esquerda, deveria ser mais forte.
No período que envolveu essa manifestação, em que houve um ataque pessoal ao festival, tive acesso a uma série de conversas e documentação que circulavam online. Cheguei a questionar se seria capaz de continuar na direção do festival.
Fora esse episódio, nunca tivemos ataques diretos. Mesmo quando tivemos problemas com direitas políticas, mesmo que não fossem os maiores defensores da nossa causa, nunca foi com essa direita. Tivemos sempre boas relações com governantes de direita, quer na CML quer no Ministério da Cultura.
Escreveu também que “o momento que atravessa a cultura queer, de um crescente experimentalismo estético e narrativo, de um repensar da sua própria identidade e das suas fronteiras [...] parece ser também um novo fôlego na procura de novos conceitos e expressões" sendo “o cinema é um lugar privilegiados de construção de utopias e projetos de futuro”. Que tipo de utopias?
É fundamental construirmos utopias. Há uma linha, relativamente recente, do pensamento queer que considera que o "queer" não é agora, é sempre no futuro. Caminhamos sempre em direção a alguma coisa. As primeiras comunidades queer já falavam dessa necessidade de construção de um futuro, de utopias queer. É preciso nunca nos vermos como alguma coisa nem perfeita nem acabada, mas aspirar sempre a procurar e construir, ir caminhando.
Não acredito que, enquanto lugar idílico, uma utopia seja alcançável, mas temos de a imaginar. Na maneira como fazemos cinema é essencial olhar nessa direção. E perceber que engloba vários tipos de cinema, desde abordagens mais políticas, documentais, de denúncia, até a construções mais românticas dessas visões de futuro. Tudo isso faz parte do caminho que temos de ir percorrendo. Não tem de chegar a algum lado, mas sabemos qual é a direção a tomar.
Olhando para alguns dos títulos desta edição, há a preocupação em procurar narrativas além-fronteiras com um cunho bastante político. Na competição documental, temos Polish Prayers, sobre um jovem polaco de extrema-direita que se torna ativista LGBTI+; Out of Uganda documenta a repressão à homossexualidade nesse país; Transfariana fala-nos sobre o romance entre um comandante das FARC e uma mulher trans numa prisão.
Esses três títulos tocam em temas que nos são muito próximos. No contexto europeu, o Polish Prayers constrói-se de opostos — urbano-rural, masculinidade-efeminização — e mostra-nos a reação católica, na Polónia, à afirmação da comunidade LGBTI+. O Transfariana mostra-nos como temos tendência a imaginar determinadas realidades como estando cingidas a determinadas geografias. Mas estas histórias existem em todo o lado, e em todos os espectros geográficos, políticos e sociais. No meio da Amazónia ou numa grande metrópole.
Ajudam-nos a empreender um esforço de deslocalização para lugares onde encontramos semelhanças e diferenças. É importante aprendermos que há realidades completamente diferentes das que conhecemos, e que as pessoas se constroem de outra forma, em termos identitários, com as referências que têm.
O Out of Uganda é um filme que vai ao fundo da questão da repressão contra pessoas LGBTI+ no Uganda, e nos ajuda a entender a questão para lá das notícias e das peças jornalísticas que vamos lendo. Toma o seu tempo a olhar para esta realidade. O cinema tem esta coisa: é empático, porque nos dá tempo para nos identificarmos com as pessoas retratadas. Não tem a frieza da televisão, da reportagem. A empatia é um exercício fundamental para nós. Infelizmente, começa a falhar nas nossas sociedades.



