
A moeda única entrou pela primeira vez em circulação há 20 anos | Facundo Arrizabalaga/EPA/LUSA
João Rodrigues: "A adesão ao Euro foi a decisão mais desastrosa que o país tomou"
Na viragem de 2001 para 2002, comemorava-se a circulação de uma nova moeda na União Europeia: o Euro. Para assinalar esta data, entrevistámos João Rodrigues. O economista tem uma resposta na ponta da língua sobre a integração portuguesa na economia europeia: serviu para baixar salários, fragilizar o sector público e reconstituir grupos económicos.
O economista João Rodrigues é um voraz – e dissonante – crítico da integração europeia e da adesão de Portugal à moeda única. Numa conversa de duas horas na redação do Setenta e Quatro, enquanto se ouviam os pingos da chuva do lado de fora, percorremos vários marcos da história da adesão portuguesa ao Euro, cuja moeda circula nos nossos bolsos e carteiras há 20 anos.
Percorremos os anos 1970 até aos anos da crise financeira, iniciada no final de 2007; caminhámos a partir do Ato Único Europeu até ao governo de Cavaco Silva; fomos ao PS contra a Europa dos Trustees até ao PS europeísta, passando por Tony Blair, Margaret Thatcher e François Mitterrand.
Falámos de neoliberalismo, de mercados, finança e financeirização, juros, taxas de câmbio (nominais) e de divisão do trabalho. São temas que apaixonam João Rodrigues, que, aguerrido durante a conversa, vai dando suaves murros na mesa, indignado. A conversa foi espontânea, ao contrário, como diria o professor de Economia da Universidade de Coimbra e membro do conselho editorial da versão portuguesa do Le Monde Diplomatique, dos mercados.

Com a assinatura do Tratado de Maastricht deram-se os primeiros passos para a institucionalização do euro. Quais foram os passos anteriores – até culminar na assinatura do tratado – e que análise faz sobre eles?
A integração europeia é uma fase politicamente consciente, numa certa parte do espaço europeu, do processo de globalização neoliberal. É a expressão parcialmente continental desse processo de globalização neoliberal que está a acelerar – também para o comando político da tríade Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão – nos anos 1980. É uma resposta de classe das elites políticas à crise dos anos 1970. A integração europeia representou o acentuar da reestruturação capitalista.
Na perspetiva portuguesa, o momento em que Portugal adere à Comunidade Económica Europeia é de enorme transformação institucional, de aprofundamento da integração europeia, que será feita numa lógica assumidamente neoliberal. O esforço político por parte das grandes potências e das instituições europeias e das forças sociais que comandam estes processos de integração, nos anos 1980, é de trancar a integração em duas áreas. Por um lado, aprofundar o chamado Mercado Único, com o Ato Único Europeu, que é uma reforma institucional da organização da então CEE; ao mesmo tempo é também uma abertura para fora.
E qual é a segunda área?
Procurar transformar o salário direto, as condições de trabalho, os salários, e o salário indireto, ou seja, o Estado Providência, em variáveis de ajustamento no contexto de crises. A intensificação da integração supranacional permite, por um lado, anular ou atenuar um conjunto de instrumentos de regulação favorável às classes trabalhadoras à escala nacional sem que esses mecanismos de regulação possam ser criados por uma série de razões políticas à escala supranacional. A integração desta dimensão assimétrica favorece os processos de liberalização.
Foi um processo de liberalização assumido?
Foi assumido. Se lermos, por exemplo, os documentos oficiais, o chamado Relatório Delors, aprovado em 1989, que abre caminho para o Tratado de Maastricht e para a União Económica e Monetária, está lá claramente dito: é preciso criar uma situação em que as pressões dos mercados se façam sentir com mais intensidade e impedir que os Estados tenham os instrumentos de regulação “keynesiana” que até aí tinham. Isso é claramente assumido.
Há aqui, por um lado, este esforço de se querer fazer um mercado único e, por sua vez, de liberalização. Isso exige, como todos os processos de liberalização, um enorme investimento político: nada acontece espontaneamente no que à construção do mercado diz respeito. É um ponto teórico, mas tem imensas implicações políticas. O que temos hoje é a condução da política dirigida numa lógica intergovernamental, em que mandam as grandes potências, e uma lógica supranacional, onde a Comissão Europeia tem um papel relevante. E elas convergem nesta aposta na liberalização.
Quem liderou esse processo?
Os comissários que lideram este processo são britânicos e irlandeses e têm o respaldo político de Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher tinha investido muito no processo do mercado único, mas não só. A própria social-democracia derrotada, enfim; o grande impulso para a integração na lógica da Comissão Europeia com a presidência de Jacques Delors, um ministro das Finanças que no governo de [François] Mitterrand tinha de alguma forma feito a viragem, ou seja, o abandono de um compromisso socialista em 1983. Portanto, vai para a Comissão Europeia em 1985 e é o presidente durante essa fase.
Miterrand chegou a dizer que estava dividido entre construir uma Europa ou instituir a justiça social.
Isso é relatado por Jacques Attali, que foi um conselheiro presidencial importante de Miterrand – um homem da sua confiança. No fundo, ele diz que na altura de uma discussão prévia à criação do Sistema Monetário Europeu, Mitterrand percebeu que a transferência, para uma escala supranacional, de instrumentos que atenuavam as possibilidades da política cambial e da política monetária tinham consequências sobre a autonomia do Estado francês e a sua capacidade de prosseguir políticas de justiça social. Mitterrand percebe que há uma contradição, ou seja, um "trade-off".
É uma contradição entre o aprofundamento da integração numa lógica liberal/neoliberal e a capacidade dos Estados nacionais prosseguirem políticas económicas orientadas por um ideal de justiça social, o que significa duas coisas: a promoção de políticas de pleno emprego com um impacto igualitário e a “desmercadorização” de esferas relevantes da vida. Ou seja, as instituições associadas ao Estado Providência a ideia de que o Estado tinha, através das empresas públicas, um conjunto de instrumentos de planeamento económico.
Temos aqui um contexto em termos de mercado único. Por outro lado, há fortíssimos interesses, durante um período de grande transformação internacional, que procuram associar o mercado único à moeda única. O Relatório Delors faz essa mesma ligação: já que temos um mercado único e uma grande integração para os mercados, mais vale acabar com as barreiras cambiais, condicionantes à liberdade dos fluxos de capitais. E, portanto, a lógica foi a da criação de uma instituição supranacional, um banco central que assumisse a responsabilidade pela condução da política monetária, eliminando as taxas de câmbio nominais, moldando a divisão do trabalho.
Como é que essa decisão se materializou?
Essa decisão vem associar um pacote de reforma institucional que está vertido em Maastricht, em que se cria o banco central mais independente do mundo, do ponto de vista da capacidade dos Estados nacionais democráticos pesarem sobre a política do Banco Central Europeu.
O resultado foi uma constitucionalização da ideia do banco central independente com um mandato orientado para o combate à inflação e com a definição de um conjunto de critérios de convergência nominal, que são uma inscrição na política europeia de um receituário que ficou conhecido, em 1989, como o Consenso de Washington. A diferença entre este consenso e o Consenso de Bruxelas-Frankfurt é: enquanto no Consenso de Washington a política cambial tem um papel no ajustamento das economias, no Consenso de Bruxelas-Frankfurt é a liberalização com a integração monetária, resultando na incapacidade de a política cambial a nível nacional desempenhar um papel de ajustamento.
"Na segunda metade dos anos 1980 e os inícios dos anos 1990, a social-democracia torna-se mais uniformemente entusiasta em relação a essa mesma integração [neoliberal]."
Como é que Portugal se enquadra nesse contexto histórico? Com a Revolução de Abril, o país estava na direção oposta a essa tendência de globalização neoliberal.
Esse é um caso curioso. Os anos 1970 são anos turbulentos. São anos de uma intensa conflitualidade política, social e ideológica. São tempos de bifurcação. A revolução portuguesa, democrática, quando ocorre está dentro de um certo consenso internacional da época. É um consenso que vai da social-democracia até ao marxismo, e que se encontra na Constituição de 1976 em torno da ideia de uma economia mista com um amplo catálogo de direitos económicos, sociais e laborais que são parte das liberdades democráticas, com um papel atuante para o Estado através de uma lógica de planificação, que não é integral.
Não é uma economia de direção central, mas sim uma economia com diferentes formas de propriedade pública, privada e cooperativa, mas em que há uma primazia do Estado democrático na condução dos assuntos económicos. Esta é a matriz constitucional que reúne, por diversas razões, um certo consenso. A questão da integração europeia, quando é colocada pelo Partido Socialista, o grande partido europeísta, embora toda a direita seja entusiasticamente europeísta, é o primeiro governo constitucional (do PS) que faz o pedido de adesão...
Não foi um processo linear. O PS, ou parte dele, antes de 1974 ou 1975, dizia ser contra a Europa dos Trustees.
A social-democracia sempre teve uma relação muito ambígua com a integração europeia. Nos anos 1950 e 1960 havia vozes da social-democracia que alertavam, e bem, que a questão da integração supranacional não era neutra do ponto de vista de seus efeitos económicos e sociais; e podia ser negativa para prossecução de um programa socialista. Percebia-se que a integração supranacional, se não fosse acompanhada de uma fortíssima e muito difícil integração política, podia degenerar num aprofundamento da integração capitalista. E estava degenerando: havia muitos diagnósticos de que a integração europeia tinha imensos vieses liberais.
Isto para dizer que há um grande paradoxo na social-democracia nos anos 1980. Quando a direção neoliberal da integração europeia fica crescentemente clara, sobretudo na segunda metade dos anos 1980 e os inícios dos anos 1990, a social-democracia torna-se mais uniformemente entusiasta em relação a essa mesma integração. E, de alguma forma, a integração, isto é, cada crescendo, ao roubar os instrumentos de política económica e social aos Estados nacionais, vai acabar por minar a própria possibilidade de políticas sociais-democratas. E, portanto, em última instância, socavar a base eleitoral dos partidos social-democratas.
A União Económica e Monetária é completamente contraditória com a prossecução de políticas sociais-democratas à escala nacional. Ela introduz um viés nas políticas muito grande, mas em 1977 [quando Portugal faz o pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia] isso não era claro. Em 1977, há uma ideia muito vaga de que a integração europeia é a forma de ancorar Portugal a uma certa ideia de progresso, a uma certa ideia democrática, mas tudo muito vagamente definido – do ponto de vista dos contornos da própria economia. O que depois temos é um conjunto de crises que criam um consenso entre o bloco central.
A crise de 1979...
As crises de 1979 e de 1983. Portugal, como país semiperiférico, sofre uma enorme turbulência neste período, que é de crise financeira internacional. Apesar de tudo, a economia portuguesa, no meio de uma crise internacional (1973-1975), com toda a transformação que Portugal sofre (transformações positivas, aliás), a economia cresce 2,5% entre 1974 e 1976. E cria emprego como nunca criou, de tal forma que consegue absorver mais de meio milhão de retornados. Portugal tinha neste período taxas de desemprego relativamente baixas. É interessante comparar este período com as últimas duas décadas: entre 1999 e 2019, também um período com crises, a economia cresce 0,9% ao ano.
É muito interessante analisar esta altura [década de 1970]. É um período de grande transformação. Em Portugal havia umas poucas dezenas de milhares de professores – esse número triplica em dois ou três anos. Cria-se infraestrutura básica de saneamento e de águas; em 1977 é criado o Serviço Nacional de Saúde. Há uma herança de mobilização social desencadeada pela revolução democrática – e a sua tradução constitucional – que cria uma expectativa social que, apesar de tudo, com todas as dificuldades, os governos têm de satisfazer.
O bloco central PSD-PS estabeleceu um consenso para desmantelar os mecanismos de regulação, de proteção e de intervenção mais robusta do Estado. Sabem que esse é o preço, sabem que vão ter acesso a fundos de coesão.
A integração europeia é, nessa altura, entendida como mais um instrumento para o progresso?
Julga-se que a integração europeia é o passaporte para o progresso. Instui-se, sobretudo, uma ideia que vai fazendo o seu consenso a partir do bloco central: a ideia de Portugal – algo que depois vai estando presente na maioria dos governos de Cavaco Silva – ter de estar sempre no pelotão da frente da integração.
Institui-se a ideia de que o segredo para o sucesso da economia portuguesa é estar sempre no pelotão da frente, porque Portugal passa, com a integração, a ter um alargamento para o Sul e a beneficiar de um conjunto de fundos de coesão que são uma espécie de moeda de troca para que o país, no fundo, abra, liberalize e abandone progressivamente os instrumentos de política económica.
O tal "trade-off” de que falou.
De alguma forma é parte de uma barganha que o bloco central fez para aderir à CEE. Eles sabem que têm num determinado horizonte de abrir a economia portuguesa e progressivamente desmantelar os mecanismos de regulação, de proteção e de intervenção mais robusta do Estado. Sabem que esse é o preço, sabem que vão ter acesso a fundos de coesão. Cria-se aqui um consenso.
Isto entre 1985 e 1986?
Para mim, o momento-chave é 1989, ano em que o campo socialista colapsa. É o ano em que é publicado o Relatório Delors, em que surge a expressão Consenso de Washington – em que há um consenso universal sobre uma economia política liberal – e é, ainda, o ano em que é aprovada em Portugal a revisão constitucional que muda profundamente a constituição económica do país.
Que mudanças trouxeram a revisão constitucional de 1989?
A revisão constitucional de 1989 é negociada entre Vítor Constâncio e Cavaco Silva. O primeiro-ministro do PSD, governo de maioria absoluta, e o líder da oposição [Vítor Constâncio] reúnem uma maioria de dois terços, a necessária para se fazer uma revisão constitucional, para fazer uma descarga ideológica da Constituição. Isso implicou remover aqueles traços da Constituição que tornavam a economia portuguesa numa economia mista, contra as socialistas.
Esse princípio já vinha a ser progressivamente abandonado através de várias interpretações da Constituição, da irreversibilidade das nacionalizações, por exemplo, da constituição de um sector empresarial do Estado. Isto era muito semelhante ao que existia em Itália e França: o governo de Mitterrand, no início dos anos 1980, ainda estava a nacionalizar empresas do sector financeiro e industrial. É preciso ver que há aqui um tempo de fluxo – historicamente é importante. Depois as coisas foram numa determinada direção. Em 1989 essa direção é clara: vai para uma onda de privatizações.
A partir dos anos 1990? E isso foi feito para nos adaptarmos às regras europeias?
As exigências da integração internacional e europeia exigem a constituição de grupos económicos privados competitivos – é essa a retórica; além de que as empresas públicas eram ineficientes; a ideia de que as regras europeias vão condicionar a capacidade de o Estado auxiliar essas empresas públicas e, por isso, é preciso introduzir uma disciplina financeira; e, sobretudo, a ideia de que sector privado deve comandar as grandes alavancas da economia nacional, particularmente, a banca.
A banca, repare, era 75% controlada pelo Estado português antes das privatizações. Na viragem dos anos 1980 para os anos 1990, o peso da banca privada passa de 25% para 75%, com exceção para a Caixa Geral de Depósitos.
São reconstituídos, portanto, os grupos económicos tal como existiam antes do 25 de Abril, mas sem a base industrial ou com uma base industrial muito mais fraca, muito mais concentrada no sector financeiro. Esta ideia de que é preciso reconstituir os grupos económicos privados – como o caso do famoso Grupo Espírito Santo –, de que é esta a chave mestra [para o desenvolvimento] está muito patente no livro de balanço de Cavaco Silva, publicado em 1995, sobre os seus dez anos de governo. No fundo, liberalizar a economia, privatizar, desregulamentar. Era este o segredo.
Isto fica ainda mais claro com a reunificação alemã e com a perspetiva de moeda única. Vêm um conjunto de critérios que exigem que a economia portuguesa seja fortemente desinflacionada, que haja uma estabilidade cambial e que Portugal perca um conjunto de instrumentos de política. O Banco de Portugal fica proibido de financiar os défices orçamentais, deixando de ser o banco do Estado – passa a ser um banco dos privados, o da banca crescentemente privada.
Com uma função meramente regulatória?
Exatamente. Com uma função regulatória, enfim, dos bancos e com cedência de liquidez aos bancos em função das suas necessidades, que faz parte, obviamente, dos atributos, poderes e capacidade de qualquer banco central.
A criação de moeda passou a ser uma função apenas da banca privada e do Banco Central Europeu?
A criação de moeda é basicamente privatizada, porque a banca é privatizada e esta é o grande mecanismo de emissão monetária e, obviamente, o Banco Central acomoda-a através das suas operações. Esse mecanismo assegura ao BCE capacidade ilimitada para se constituir como prestamista de última instância, ou seja, quando a banca está em dificuldades de liquidez, o Banco Central Europeu, através das suas operações de política monetária, assegura uma certa estabilidade para lá das funções de regulação. Regulação essa que confia cada vez mais na concorrência, no sector privado. É uma regulação cada vez mais distanciada das operações correntes e estratégicas da banca, porque se considera que os mercados financeiros possuem propriedades de uma certa autorregulação.
"A banca era 75% controlada pelo Estado português antes das privatizações. Na viragem dos anos 1980 para os anos 1990, o peso da banca privada passa de 25% para 75%, com exceção para a Caixa Geral de Depósitos."
A regulação deve ser meramente complementar e amiga da promoção de uma lógica de internacionalização, integração e concorrência quando antes estava fortemente condicionada. O Estado tinha um grande controlo sobre o crédito e a sua direção. Até 1992, em Portugal, existiam controlos à entrada e saída de capitais, precisamente porque se considerava que não se podia deixar aos mercados a decisão sobre variáveis chave da política monetária e cambial e da política económica.
E é com a assinatura do Tratado de Maastricht, com esse processo materializado e institucionalizado, que Portugal começa a direcionar-se para um caminho de maior liberalização da economia?
Portugal aceita a União Europeia, aceita a União Económica e Monetária e, particularmente, aceita a integração na fase mais robusta na criação de um mercado único e, depois, da moeda única. Portugal aceita todas as regras do jogo. E não só aceita as regras do jogo, como os governos portugueses, as elites intelectuais e económicas portuguesas dizem que Portugal deve fazer tudo para estar na vanguarda da integração e, no fundo, na segunda metade dos anos 1990 surge um argumento que a política cambial já não serve para grande coisa. Nós estamos demasiado condicionados.
Por que razão Portugal aceita todas as regras do jogo? Porquê essa ânsia de estar na vanguarda da integração?
Acho que há, por um lado, uma certa miopia, uma convicção muito grande entre os economistas de que este é o caminho. Há uma colonização ideológica e política e uma forma de entender a Economia muito confiante na força do mercado capitalista internacional, expurgado do tipo de regulação, coletivista e drástica que marcou uma certa fase do capitalismo. Há uma enorme confiança de que os instrumentos tradicionais de política na mão dos Estados já não são operacionais, porque a integração já atingiu uma escala tal que os Estados são um bocadinho impotentes. Há a ideia de que a integração plena nos circuitos financeiros internacionais vai aumentar a credibilidade de Portugal, isto é, com a integração na moeda única, que o país vai tornar-se um recetáculo de investimento internacional que vai permitir a sua modernização.
Por isso é que, durante muito tempo, na segunda metade dos anos 1990 em particular, o endividamento externo crescente é visto de forma benigna. Os agentes económicos privados em Portugal estão a endividar-se junto da banca e isso traduz-se, do ponto de vista das relações externas, num endividamento externo crescente, devido ao alto défice da balança corrente. O país está a investir. Tem que importar para investir e este processo é visto como parte da modernização financeira e da modernização económica. A tradução disso teria sido a capacidade de os agentes privados se financiarem junto da banca a taxas de juro cada vez mais baixas.
Portanto, isso seria o ganho para o país, dando a melhor inserção nos circuitos financeiros internacionais, aquilo que temos chamado em alguns trabalhos, a financeirização do capitalismo em Portugal: o aumento da importância dos motivos, agentes e mercados financeiros. Isto foi uma construção política e foi vendida como tendo mais vantagens do que custos.
Este percurso foi iniciado por Cavaco Silva, mas o governo de António Guterres é quem toma as decisões finais e aceita a herança do então líder do PSD. Cavaco Silva escreve, aliás, de forma elogiosa, em 1995, que o Partido Socialista aceitou, em termos de matéria económica, a sua herança: a aposta toda na integração europeia e na adesão à moeda única tal como se começava a vislumbrar e a planear.
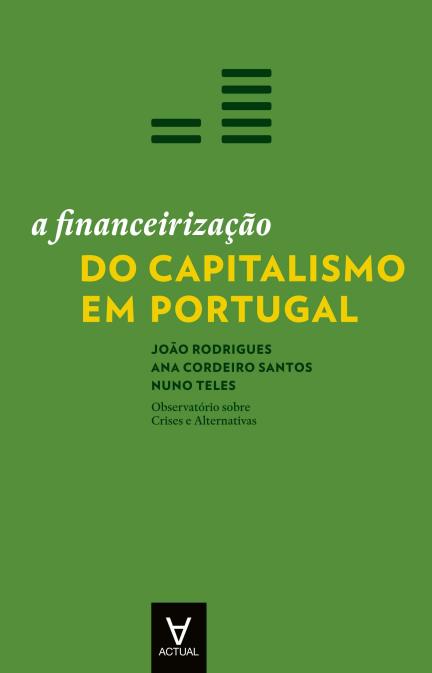
Um bocado à semelhança do que Margaret Thatcher disse em relação ao Partido Trabalhista de Tony Blair?
Exatamente. Acho que é o paralelismo perfeito. Aliás, há um livro do Cavaco Silva sobre estas questões da União Económica e Monetária, com prefácio de Jacques Delors. Um prefácio muito elogioso de Cavaco por parte de Jacques Delors. Nesse livro, Cavaco Silva diz que vê com satisfação que o eixo da política económica do novo Governo, de António Guterres, continua no essencial a sua política económica.
Como Thatcher diz: “A minha maior vitória é Tony Blair”. Ou seja, é quando o campo da política económica e com traduções sociais de todo o lado, porque a política económica é mesmo importante.
Como vê o governo de António Guterres?
O guterrismo não é mais do que uma nota de rodapé para as grandes transformações que foram feitas durante o cavaquismo. É uma nota de rodapé no sentido de uma tentativa de criar uma certa almofada social para um programa que foi o cavaquismo: de liberalização, desregulamentação e privatização. Guterres beneficiou de uma conjuntura internacional muito favorável, do ponto de vista do crescimento económico internacional e europeu, que arrastou a economia portuguesa até ao início da década de 1990.
No início da década de tivemos uma crise significativa que, aliás, minou muito a legitimidade da fase final do governo de Cavaco Silva, mas, quer dizer, foi um governo estruturalmente bem-sucedido do ponto vista político, não por acaso com duas maiorias absolutas. A direita conseguiu criar uma base social aparentemente favorável àquele tipo de transformações institucionais. Agora, a questão mais importante, da liberalização financeira, da adesão à moeda única, passou por baixo do radar do ponto vista do escrutínio democrático.
Porquê?
Maastricht nunca foi referendado em Portugal e foi referendado noutros países. Nunca houve uma discussão sobre as reais implicações para a soberania do país em relação às decisões que estavam a ser tomadas naquele período, nas vésperas do Tratado de Maastricht; e, sobretudo, as decisões que foram tomadas em continuidade com o grande consenso entre o PS e PSD, no que diz respeito à adesão à moeda única. Na minha opinião, a adesão é – do ponto de vista da política económica – a decisão mais desastrosa que o país tomou, mais até do que as privatizações. Na minha opinião, a adesão ao Euro explica o padrão que depois se registou na viragem dos anos 1990 para o novo milénio, em que Portugal até era, com todas as contradições, um país de convergência. Aliás, isso até explica um certo consenso social e político, mas Portugal passa a ser um país de divergências.
Começámos a convergir com os países europeus quando entrámos na União Europeia?
Do ponto de vista económico, a convergência começa antes do 25 de Abril, mas é a convergência de uma sociedade desigual; uma sociedade autoritária; uma sociedade que exporta força de trabalho e imigração. A partir do 25 de Abril passamos a cumprir não só economicamente, mas com um perfil económico, social e político muito mais favorável às classes trabalhadoras.
Por isso é que deixámos de ser um país de emigração e passamos a ser um, como diz o professor José Reis, que cria intensamente trabalho. Onde se trabalha muito, onde as taxas de desemprego, mesmo nas crises, são relativamente baixas. Portugal, ao contrário de Espanha, nunca ultrapassou até ao novo milénio uma taxa de desemprego de 8%. Quer dizer, é alta para certos padrões históricos, mas é um país onde a percentagem de pessoas que trabalham em relação à população total é das mais elevadas. O trabalho está muito feminizado. A força de trabalho da população total é grande num país que tem uma enorme capacidade de criação de emprego. Pode-se dizer emprego mal remunerado, mas emprego.
Depois do cavaquismo ao guterrismo temos esta combinação precária entre liberalização económica e financeira por um lado, e, pelo outro, maioritariamente pelo guterrismo, uma certa almofada social deste processo.
Nós estávamos a convergir para aquilo que era visto como uma referência. Uma forma que se explica facilmente, porque de facto a Europa do Centro era, digamos, um íman para todos os efeitos – económico, social, cultural e político. Estávamos numa época em que isto era quase irresistível: são os anos do fim da história. As vozes céticas e críticas em relação a estes processos eram muito minoritárias.
"A crise financeira internacional é a evidência gritante do fracasso de uma lógica de integração comandada pela finança de mercado."
Quem foram?
Quando fiz a licenciatura e estava a estudar, assistia a muitos debates económicos. Do ponto de vista político-partidário eram os comunistas do PCP – se bem que hoje não tenha literacia partidária, os comunistas portugueses são muito subestimados intelectualmente no espaço público. Do ponto de vista académico e intelectual, para mim, era o professor João Ferreira do Amaral. Tinha este paradoxo: era conselheiro presidencial, um economista "keynesiano" influente, um social-democrata. Mas era alguém que, fora dos sectores comunistas, quase sozinho entre os economistas, da sua comunidade, alertava para aquilo que na segunda metade dos anos 1990 ele apelida de golpe de Estado económico
É preciso uma grande independência e autonomia intelectuais para estar sozinho, quase sozinho. Isso é admirável e ainda bem, porque hoje João Ferreira do Amaral não é tão ouvido quanto deveria, mas quando fala já é muito mais difícil ignorá-lo. Agora, o país vai-se conformando com uma trajetória cada vez mais medíocre e uma certa degradação da vida política e do debate político.
Os números são claros: nos últimos 20 anos o crescimento económico estagnou. E esses 20 anos estão muito presentes no debate público. Há um fator que marca estes anos: o Euro. A moeda única, porém, nunca é um tema no debate. Porquê?
Há demasiado capital político, económico e simbólico investido na integração europeia. As elites portuguesas estão demasiado investidas na integração europeia e beneficiam da integração de uma moeda forte. Para quem circula internacionalmente ter uma moeda forte é uma enorme vantagem. Isto não é apenas para elite política e económica, é para certos sectores sociais que comandam e que têm voz no debate público. Nós raramente ouvimos os trabalhadores precários, os sectores industriais que desapareceram.
Raramente ouvimos as pessoas que emigram, e são centenas de milhares no novo milénio, sobretudo depois da crise financeira internacional num país que não tinha instrumentos de política para responder a essa crise que nos amachucou, num país que se tornou de novo um país de emigração em termos líquidos.
Os jovens têm uma apreciação muito positiva sobre o Euro, segundo o último inquérito do Eurobarómetro. Na generalidade, 72% dos portugueses apreciaram positivamente a moeda única, mas essa percentagem aumenta quanto mais jovem o inquirido é.
Não me custa acreditar, porque são muito poucos [os jovens que são críticos em relação ao Euro]…
Qual é a sua opinião sobre este dado?
Acho que as pessoas interiorizaram.
A maior parte dos jovens ganha menos de 950€ líquidos.
Basta pensar que, para um trabalhador qualificado no final dos anos 1990, o ponto de entrada num estágio numa boa empresa era de 1000€.
Os jovens são os que mais apoiam o Euro.
A realidade não entra pela cabeça das pessoas adentro. Ela é guiada pelas narrativas que circulam no espaço público e que são politicamente mobilizadas. Com a integração europeia tem havido um discurso e uma prática política, nacional e europeia, que cria poderosos mecanismos de conformação, a começar na vida académica. Hoje, a vida académica, é, toda ela, muito condicionada pelo financiamento europeu. Isso cria fortíssimas pressões materiais para o conformismo.
A investigação crítica da integração não é propriamente beneficiada, mas a questão é: a crise financeira internacional é a evidência gritante do fracasso de uma lógica de integração comandada pela finança de mercado. Essa lógica colapsou dos dois lados do Atlântico, nos Estados Unidos e na União Europeia, quando tivemos a socialização do prejuízo do sector financeiro, por via do Estado e das intervenções de emergência dos bancos centrais, tivemos um período de interlúdio "keynesiano" [de investimento público, em contraste com a austeridade] em que os Estados foram convidados a investir e a socializar as perdas do sector financeiro, para que as economias recuperassem mais rapidamente.
"A crise financeira custou centenas de milhares de postos de trabalho e centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a emigrar. A nossa austeridade não foi tão devastadora como a da Grécia porque entramos mais tarde no programa."
Portugal, numa primeira fase, respondeu com investimento público à crise das dívidas soberanas?
Na viragem de 2008 para 2009, mas muito pouco. O que acontece em Portugal e que explica o aumento do défice nesse período é a queda da economia. A queda das receitas do Estado e o aumento das despesas com subsídios.
De repente, a dívida pública portuguesa, que antes da crise andava na casa dos 60%, cresce exponencialmente. E o Banco Central Europeu – que em 2008 ainda estava a subir as taxas de juro, no meio de uma crise, que é uma coisa totalmente irracional – decide deixar que os mercados financeiros atuem e, portanto, que junto dos Estados endividados exerçam a pressão que devem exercer. Essa era a lógica que estava desde Maastricht: a ideia de que os mercados ao controlarem os Estados criam uma lógica benigna de ajustamento.
O Banco Central Europeu hoje é mais interventivo, injeta liquidez no mercado.
O Banco Central Europeu pode chegar aos mercados e comprar dívida pública, fazendo descer o preço da mesma, financiando indiretamente os Estados. Portanto, o Banco Central Europeu tem o controlo sobre a taxa de juro. Retrospetivamente, o que é que isto nos diz sobre a crise de 2008-2009? Custou centenas de milhares de postos de trabalho e centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a emigrar. A nossa austeridade não foi tão devastadora como a da Grécia porque entramos mais tarde no programa. Como já estávamos estagnados, a queda também foi menor.


