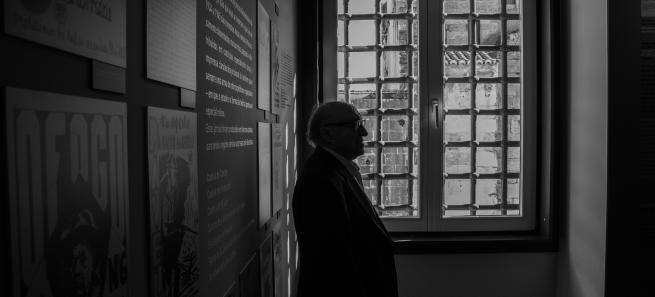Historiador, investigador (IHC FCSH NOVA) e autor de "A banca ao serviço do povo". Política e Economia durante o PREC (1974-75).
25 de Novembro, o dia final inteiro e limpo
O 25 de Novembro vai ocupando um lugar cada vez mais proeminente na mitologia da Direita portuguesa. Confrontada com uma data que a Esquerda celebra todos os anos nas ruas, a Direita sentiu a necessidade de encontrar a sua, com um simbolismo sustentado em narrativas pouco rigorosas.
À medida que os anos passam, o 25 de Novembro de 1975 vai ocupando um lugar cada vez mais proeminente nas mitologias liberal e conservadora portuguesa. Não há partido de Direita que não se acotovele para demonstrar a sua incondicional adesão à data: se o CHEGA a quer ver comemorada no Parlamento, o CDS logo propõe que se condecorem “todas as personalidades envolvidas nos acontecimentos”, enquanto a Iniciativa Liberal faz afixar cartazes a dizer “25 de Novembro sempre, comunismo nunca mais”.
As razões para este entusiasmo são fáceis de perceber: confrontada com uma data que a Esquerda celebra todos os anos nas ruas, a Direita sentiu a necessidade de encontrar o seu “dia inicial inteiro e limpo”, com as respetivas palavras de ordem e iconografia.
Tornou-se para esse efeito necessário esboçar uma sinuosa simetria entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, de resto com vantagens evidentes: celebrar as chaimites de Jaime Neves permite fazer o luto pelo PREC sem exigir um posicionamento claro em relação ao Estado Novo. Nesta incessante luta pela memória, a máquina mitológica posta a operar em torno da comemoração do 25 de Novembro procura, a um passo, diabolizar e exorcizar o processo revolucionário. Não é por isso de estranhar que a sua narrativa corra quase sempre no sentido de resgatar o passado ditatorial e a sua peculiar encenação de normalidade, feita de miséria, repressão e censura.
DEPENDEMOS DE QUEM NOS LÊ. CONTRIBUI AQUI.
Evidentemente, semelhante exercício dispensa qualquer tipo de consistência lógica ou rigor interpretativo. Procurando contornar um conjunto de interrogações cruciais acerca dos acontecimentos, a Direita Novembrista dedica-se invariavelmente a inflacionar o simbolismo da data, sobrecarregando-a de um significado unívoco e removendo de cena tudo aquilo que possa criar ruído. Não basta ignorar as clivagens no interior do MFA, o incessante alinhamento e realinhamento das suas facções, ou a contagem de espingardas que marcou o outono de 1975. É igualmente necessário passar por cima dos acontecimentos do próprio dia, bem como do complexo equilíbrio de forças que dele resultou.
Tudo isto constitui, é certo, matéria difícil de resumir num parágrafo, mas basta ler os jornais da época, ou escutar os testemunhos dos seus protagonistas, para perceber que tudo é infinitamente mais complicado do que se pretende fazer crer. Veja-se o caso da Constituição: ouve-se frequentemente dizer que o 25 de Novembro foi essencial para que fossem respeitados os resultados das eleições para a Assembleia Constituinte. Mas o texto da Constituição foi, desde a sua aprovação, objeto de incessante contestação pelos partidos de Direita, que questionaram a legitimidade dos militares que triunfaram no dia 25 de novembro para impor condições aos deputados.
Quanto à ideia, recorrente, de que se teria assistido a uma vitória dos “moderados” sobre os “radicais”, basta ler o “Documento dos Nove”, peça-chave do enredo contrarrevolucionário, para tropeçar na enfática recusa “do modelo de sociedade social-democrata em vigor em muitos países da Europa Ocidental”, ou na adesão a um “projeto político de esquerda” apontado à “construção de uma sociedade socialista”. Existem, em suma, vários obstáculos de monta no caminho das celebrações do 25 de Novembro.
Servem estas observações para introduzir uma interpretação um pouco mais cautelosa e um pouco menos definitiva, um pouco mais rigorosa e um pouco menos fantasiosa, um pouco mais informada e um pouco menos instrumental, do que aconteceu a 25 de novembro de 1975. Por limites de espaço, as linhas que se seguem serão dedicadas sobretudo à dimensão militar dos acontecimentos, remetendo para segundo plano as movimentações de outros protagonistas, como os partidos políticos.
Uma rebelião a meio-gás
Na madrugada de 24 para 25 de novembro de 1975, destacamentos de paraquedistas ocuparam quatro bases da Força Aérea Portuguesa (Tancos, Ota, Monte Real e Montijo), juntamente com o comando da 1ª Região Aérea e as instalações do GDACI (Grupo de Deteção, Alerta e Conduta da Intercepção), em Monsanto.
Ainda que Tancos (onde ficava a Base-Escola de Tropas Paraquedistas [BETP]) tenha sido o epicentro da operação, a BA-5 (Montijo) foi ocupada por uma companhia de paraquedistas aí estacionada, enquanto as instalações de Monsanto ficaram sob o controlo da Companhia de Paraquedistas 121, aquartelada no Depósito Geral de Adidos da Força Aérea (DGAFA), ao Lumiar. Concretizada praticamente em simultâneo, a ocupação das bases iniciou-se às 06h00 e ficou concluída em menos de duas horas.
A operação foi apresentada como um protesto contra a dissolução da unidade, anunciada pelo Chefe de Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General Morais e Silva, a 18 de novembro. Os seus antecedentes imediatos são de tal forma embaraçosos que a comissão não-oficial para a celebração do 25 de Novembro costuma estender sobre eles um manto de silêncio.
Os paraquedistas, que haviam sido utilizados pelos spinolistas no 11 de Março, compunham uma unidade de elevada capacidade operacional, conhecida pela sua disciplina e espírito de corpo. Isso tornou-os, aos olhos de Morais e Silva, o instrumento ideal para pôr cobro às emissões da Rádio Renascença, ocupada pelos trabalhadores e que emitia por conta própria um alinhamento noticioso e musical enfaticamente revolucionário. As suas instalações haviam sido seladas em outubro, por decisão do VI Governo Provisório (no qual o PS e o PPD detinham a maioria das pastas), mas o Comando Operacional do Continente (COPCON), liderado pelo Brigadeiro Otelo Saraiva de Carvalho, tomara a iniciativa de a devolver aos ocupantes, que retomaram a emissão.
Confrontado com este desafio, o Conselho da Revolução optou pura e simplesmente por destruir o posto emissor, situado na Buraca. A operação, a todos os títulos insólita, foi confiada à Companhia de Paraquedistas 121, estacionada no Lumiar. Na madrugada de 7 de novembro, cerca de sessenta paraquedistas deslocaram-se à Buraca, acompanhados por um efetivo da PSP, neutralizando o piquete de militares e civis aí estacionado e fazendo detonar duas cargas explosivas de elevada potência, que destruíram por completo as instalações. À exceção do Capitão Barroca Monteiro, que os comandava, nenhum dos paraquedistas envolvido estava a par da natureza da operação.
Condenada à esquerda e à direita – vários membros do Conselho da Revolução afirmaram, a posteriori, desconhecer os contornos concretos da operação – a operação bombista espoletou um conflito há muito latente no interior da BEPT. Dois dias depois, os Sargentos da unidade recusaram-se a participar numa sessão de esclarecimento com o General Morais e Silva, à qual compareceram apenas os oficiais, optando por realizar um plenário próprio. Na sua sequência, 123 dos 124 oficiais da unidade abandonaram a Base, denunciando num comunicado as manobras de uma minoria de Sargentos alinhados com a esquerda revolucionária. Os paraquedistas ficaram a partir daí, para todos os efeitos, em autogestão, obedecendo a uma cadeia de comando composta pelos Sargentos e colocando-se, por iniciativa própria, sob a alçada do COPCON.
Ao início da manhã, quando a notícia da ocupação das bases já circulava, o Regimento de Artilharia de Lisboa (RALIS, situado na Encarnação) estabeleceu um dispositivo de defesa que abarcava a Autoestrada do Norte, o Depósito de Material de Guerra (DGM, em Beirolas) e o Aeroporto da Portela, enquanto destacamentos da Escola Prática de Administração Militar (EPAM, no Lumiar) tomavam conta das instalações da RTP e um contingente do Regimento de Polícia Militar (RPM, Ajuda) ocupava os estúdios da Emissora Nacional.
É difícil descortinar em tudo isto um assalto ao poder. A regra essencial de qualquer insurreição é tomar os principais pontos-chave – telecomunicações, centrais elétricas, meios de transporte – a par dos centros do poder. Escusado será dizer que, com a exceção das estações de rádio e televisão, nada disto aconteceu a 25 de Novembro.
À exceção dos paraquedistas, comandados por Sargentos da Força Aérea, as outras unidades eram todas comandadas por oficiais da chamada “Esquerda Militar”. Também durante a manhã, várias estações de rádio emitiram o comunicado dos paraquedistas: “Não podendo aceitar mais as tomadas de posição do CEMFA contrárias ao interesse do Povo Português, decidimos comprovar a nossa operacionalidade e disciplina revolucionária, numa vasta operação de neutralização das principais unidades da FA, tendo em vista a contestação directa de um general, militar que se afasta com as suas decisões dos objectivos da revolução democrática e socialista”.
Se o leitor espera descrições detalhadas das movimentações características de um golpe militar ou de uma insurreição, ficará provavelmente desiludido, uma vez que, ocupadas estas posições, os sublevados limitaram-se a usar os meios de comunicação ao seu dispor para ler um comunicado, a exigir a demissão do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o General Morais e Silva, e do Comandante da Primeira Região Aérea, o General Pinho Freire, bem como dos dois representantes da Força Aérea no Conselho da Revolução, o Tenente-Coronel Costa Neves e o Major Canto e Castro.
Note-se desde logo a diferença em relação ao 25 de Abril, que se desenrolou segundo um plano de operações meticuloso, coordenado através de uma cadeia de comando pré-definida, com objetivos estratégicos claramente delineados. O “Relatório preliminar do Conselho da Revolução ao 25 de Novembro” (doravante referido simplesmente como o “Relatório”), ainda que visivelmente empenhado em atribuir responsabilidades ao PCP e à extrema-esquerda, reconhece que as forças envolvidas “na conjura do dia 25” não haviam “definido claramente as suas ações”, faltando-lhes “um posto de comando centralizado”.
Os únicos esforços práticos para apoiar a sublevação partiram do Major Diniz de Almeida, segundo comandante do RALIS, que por iniciativa própria enviou aos paraquedistas estacionados em Monsanto um blindado e algumas peças de artilharia (a juntar aos quatro canhões sem recuo que já lhes tinha disponibilizado dias antes).
À hora a que a operação começou, Otelo Saraiva de Carvalho estava em casa a dormir, tendo-se apresentado no Palácio de Belém pelas 15h30, após uma curtíssima passagem pelas instalações do COPCON (no Alto do Duque, em Lisboa). O Almirante Rosa Coutinho e o Comandante Martins Guerreiros, membros do Conselho da Revolução e dois dos mais eminentes oficiais da “Esquerda Militar”, acorreram igualmente ao Palácio de Belém durante manhã, aí permanecendo ao longo de grande parte do dia.
Tanto o Partido Comunista Português (PCP) como os partidos à sua esquerda convocaram os militantes para defender as respetivas sedes, ao mesmo tempo que um grande número de civis se concentrava nas imediações do Forte de Almada, do Quartel do Regimento de Infantaria 11, em Setúbal, do RALIS e da Polícia Militar, solicitando armas. O Relatório afirma que terão sido distribuídas armas no RALIS e à Polícia Miltar, mas Diniz Almeida, o comandante de facto do RALIS, negou-o repetidamente.
É à primeira vista difícil descortinar em tudo isto um assalto ao poder. A regra essencial de qualquer insurreição é permanecer, tanto quanto possível, na ofensiva, tomando os principais pontos-chave - como as telecomunicações, as centrais elétricas e os meios de transporte - a par dos centros de governo propriamente ditos. Escusado será dizer que, com a exceção das estações de rádio e televisão, nada disto aconteceu a 25 de novembro.
Basta pensar na proximidade física do Palácio de Belém (onde o Conselho da Revolução permaneceu reunido durante o dia inteiro, guardado por um efetivo relativamente pequeno) em relação a quartel do Regimento de Polícia Militar (quase dois mil soldados e um número considerável de veículos blindados), para se tornar difícil descortinar em tudo isto uma tentativa de tomada do poder, uma vez que teria bastado descer a Calçada da Ajuda com alguns blindados para o tomar.
No final do dia 28 já a situação se havia decidido a favor dos "moderados". Aos vencedores esperava-lhes a gestão da correlação de forças no seio das Forças Armadas, onde o Grupo dos Nove era agora o setor mais à esquerda. O MFA deixara de existir.
Otelo, que havia sido o autor do Plano de Operações do 25 de Abril, conhecia perfeitamente o tipo de manobra necessária para assegurar uma supremacia militar indiscutível em Lisboa e dispunha às suas ordens de meios e efetivos largamente superiores aos que podiam ser mobilizados para o enfrentar.
O facto é que o dia 25 decorreu sem que fosse disparado um único tiro. E se a operação dos paraquedistas começou por apanhar quase toda a gente de surpresa, o efeito esgotou-se rapidamente, visto que o General Pinho Freire, detido nas instalações do 1º Comando Aéreo, conseguiu aceder a um telefone e informar Morais e Silva do que estava a acontecer.
Reunido em Belém o Conselho da Revolução, o Presidente da República, General Costa Gomes procurou encontrar uma solução política para superar o impasse. Começou por estabelecer um canal de comunicação com os paraquedistas, através do Capitão Costa Martins, um dos poucos oficiais da Força Aérea pertencentes à Esquerda Militar, que acabava de ser colocado no COPCON depois de ter sido afastado do Conselho da Revolução. Costa Gomes ofereceu aos revoltosos a garantia de que a unidade não seria dissolvida e ficaria às ordens do COPCON.
Entretanto, foi contactando com as chefias das várias Regiões militares e com as principais unidades, para tomar o pulso à situação. Recebeu do Grupo dos Nove, logo pelas 10h00, a informação de que havia um plano para responder à sublevação, contando-se para esse efeito com o Regimento de Comandos, a Escola Prática de Infantaria (EPI) e o Centro de Instrução de Artilharia Anti-Aérea de Cascais (CIAAC). Depois de alguma hesitação, não tendo obtido de Costa Martins qualquer resposta, por volta das 16h00 o Presidente da República optou por declarar o estado de sítio e chamar a si o comando das unidades da Região Militar de Lisboa (RML), que delegou no Major Vasco Lourenço e no Tenente-Coronel Ramalho Eanes.
Por essa altura, já havia obtido de Álvaro Cunhal e da Intersindical a garantia de que tudo fariam para desmobilizar os civis concentrados nas imediações dos quartéis, para além de ter solicitado ao Almirante Rosa Coutinho e ao Comandante Martins Guerreiro que tentassem desmobilizar as unidades da Marinha que se inclinavam a intervir a favor dos sublevados. Estes só sairiam de Belém ao fim da tarde, deslocando-se à Base do Alfeite, onde terão demovido os Fuzileiros de se envolverem nas movimentações em curso
Uma vez obtida a anuência de Costa Gomes, Ramalho Eanes seguiu imediatamente para o quartel do Regimento de Comandos, na Amadora, onde já estava instalado posto de comando, com um sistema de radiotransmissão previamente preparado pelo Capitão Garcia dos Santos.
Além de ter obtido um significativo reforço de meios nos meses precedentes (incluindo peças de artilharia e blindados), o Coronel Jaime Neves, que chefiava o Regimento de Comandos, conseguira autorização para constituir duas Companhias com homens escolhidos entre os que haviam combatido consigo em África. Foi com esses efetivos que cercou os paraquedistas em Monsanto, conseguindo obter a sua rendição ao início da noite (não sem que algumas dezenas tivessem conseguido furar o cerco, seguindo para o RALIS).
A emissão da RTP, onde o Capitão Manuel Duran Clemente (EPAM) apelara à mobilização popular em apoio aos paraquedistas, seria redirecionada para os estúdios do Porto pouco depois, aproveitando o facto de a antena, localizada perto das instalações do Comando da 1ª Região Aérea, ter sido igualmente tomada pelos Comandos.
Durante a madrugada, o Major Diniz de Almeida apresentou-se em Belém, onde ficaria detido. Já de manhã, e como os oficiais do Regimento de Polícia Militar não tivessem obedecido à ordem de Costa Gomes para se apresentarem em Belém, um destacamento de Comandos subiu a Calçada da Ajuda, tendo-se verificado uma troca de tiros do qual resultaram três mortos (dois atacantes e um defensor), concluída com a rendição da unidade e a detenção dos três oficiais superiores (Campos Andrada, Mário Tomé e Cuco Rosa).
Nessa altura já as bases da Ota e de Monte Real estavam desocupadas, tendo-se-lhes seguido a do Montijo. Os paraquedistas regressaram a Tancos, onde se viriam a render no dia 28, tendo sido imediatamente passados à disponibilidade.
No dia anterior, vários oficiais do COPCON (com a exceção de Otelo, que ficou inicialmente em liberdade e acabaria por ser preso mais tarde) haviam sido detidos por um destacamento de Comandos, nas instalações do Alto do Duque, onde se encontravam a recolher os seus papéis e pertences pessoais.
A situação político-militar havia-se clarificado decisivamente a favor do Grupo dos Nove e dos seus aliados de ocasião da Direita Militar. Aos vencidos esperava um longo período na prisão de Custóias. Aos vencedores, a gestão de uma delicada correlação de forças no seio das Forças Armadas, onde o Grupo dos Nove era agora o setor mais à esquerda. O MFA deixara, para efeitos práticos, de existir.
Questões em aberto
A sublevação dos paraquedistas e as movimentações de outras unidades militares podem evidentemente ser objeto de múltiplas interrogações. É, de resto, aquilo a que se dedica o Relatório, uma fonte sem dúvida útil, mas que deve ser lida com as mesmas reservas que dedicamos às versões apresentadas pelos militares que foram presos (ou se exilaram) na sequência do 25 de Novembro.
Para que esse exercício interpretativo seja minimamente esclarecedor, é necessário navegar por entre os diversos relatos, testemunhos e versões dos acontecimentos, sem elidir as ambiguidades, contradições e divergências que os atravessam. Talvez seja por isso útil identificar um conjunto de questões em aberto e ensaiar algumas respostas.
Segundo o Relatório, mas também de acordo com testemunhos dos sublevados (como o do Sargento Carmo Vicente, em declarações à RTP, em Monsanto, no próprio dia 25), os paraquedistas julgavam contar com o apoio de outras unidades e atuar sob as ordens do comandante do COPCON. A Base Aérea -1 (Cortegaça, perto de Aveiro, onde havia sido concentrada a maioria dos aviões da Força Aérea), por exemplo, não terá sido ocupada por haver a garantia de que a Marinha o faria. Ao longo do dia 25 e até ao dia 28 (quando a BETP se rendeu), foram feitos vários contactos com o Comando de Fuzileiros do Continente (Base naval do Alfeite), para saber se estes se juntariam à sublevação.
A grande questão em aberto é, por isso, se a ocupação das bases tinha como finalidade única os objetivos enunciados no comunicado emitido na manhã do dia 25, ou se haveria outros, de maior alcance e com outras implicações.
Os paraquedistas argumentaram pretender demonstrar que a sua capacidade operacional não havia sido afetada pela saída dos oficiais, rebatendo o argumento invocado por Morais e Silva para dissolver a unidade. Pretendiam também substituir os representantes da Força Aérea no Conselho da Revolução, que responsabilizavam pela sua instrumentalização na destruição do emissor da Renascença. Mas é evidentemente possível que houvesse outros objetivos em jogo.
Desde logo, a ocupação das bases, se acompanhada pela tomada de posições importantes por outras unidades, poderia ser o início de um pronunciamento, confrontando o Conselho da Revolução com uma situação de facto e, dessa forma, impondo um recuo em relação não apenas ao destino dos paraquedistas, mas também à substituição de Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço no comando da RML. No limite, o objetivo poderia passar por uma recomposição do Conselho da Revolução e pela formação de um novo Governo Provisório, revertendo as decisões tomadas pela Assembleia do MFA realizada em Tancos, no início de setembro, quando Vasco Gonçalves e boa parte dos oficiais da Esquerda Militar haviam sido afastados dos principais centros de decisão.
A sublevação fora precedida por uma intensa contagem de espingardas, com incessantes rumores de golpes militares de esquerda e de direita ao longo dos meses anteriores, pelo que a atuação do SDCI pode ter simplesmente correspondido à ativação de um plano de resposta, preparado para um eventual confronto precipitado pelo Grupo dos Nove ou pela Direita Militar.
Isso leva-nos ao papel do COPCON. É sabido que Otelo, tendo saído de madrugada de uma reunião do Conselho da Revolução (onde a sua substituição no comando da RML, decidida uma semana antes, se viu confirmada), se deslocou às instalações daquela unidade, no Forte do Alto do Duque, onde estavam reunidos vários oficiais da Esquerda Militar. Segundo o próprio Otelo, Costa Martins terá então declarado que os paraquedistas não aceitariam essa decisão, estando iminente uma operação levada a cabo para demonstrar o seu descontentamento. Otelo afirma ter conversado com dois oficiais da Força Aérea colocados no COPCON, Arlindo Ferreira e Tasso de Figueiredo, a quem teria pedido que contactassem os paraquedistas para os demover, antes de ir para casa dormir.
No entanto, os testemunhos de Diniz de Almeida e de Vasco Lourenço, protagonistas situados dos dois lados da barricada, atribuem a Otelo a ordem, emitida a partir do COPCON, para o início da operação. Segundo o Sargento Carmo Vicente, o destacamento de paraquedistas que ocupara o 1º Comando da Região Aérea recebeu, ao fim da tarde de dia 25, um telefonema do COPCON, informando que os Comandos que os cercavam estariam, por sua vez, rodeados por um efetivo superior de Fuzileiros, que teria vindo em seu auxílio.
Otelo afirmou ter recebido no seu gabinete, ao início da tarde de dia 25 (ou seja, antes de ir para Belém), o comandante do Corpo de Fuzileiros do Continente, João Pacheco Ribeiro, que se teria posto à sua disposição para atacar o Regimento de Comandos, algo que este negou veementemente, num direito de resposta ao jornal Público. O testemunho de Otelo parece tanto mais inusitado quanto àquela hora ainda se desconhecia qual seria a resposta de Costa Gomes à sublevação dos paraquedistas. O envolvimento dos oficiais do COPCON, a começar pelo seu comandante, permanece assim envolto em ambiguidade, ainda que os testemunhos de Lourenço e de Diniz de Almeida, ao qual se somam as declarações de paraquedistas no próprio dia e a posteriori, apontem no sentido de um apoio inicial à tomada das bases, seguido de um recuo e de uma tentativa de encobrimento.
A presença no COPCON de Arnão Metelo, que o historiador Sanchez Cervelló não hesita em descrever como um “dirigente do Diretório Militar gonçalvista” , contribui para adensar ainda mais o enredo, conduzindo-nos à análise do papel desempenhado pelos setores militares mais próximos do PCP. É sabido que, durante a madrugada ou a manhã de 25 de novembro, foi improvisado um centro de operações no Serviço de Deteção e Controlo de Informação (SDCI), coordenado pelo Comandante Almada Contreiras. A hora em que esse centro de operações começou a funcionar não é um elemento irrelevante.
O Coronel Varela Gomes afirmou que isso só teria acontecido já depois de os paraquedistas terem iniciado a sua operação. A ser esse o caso, ter-se-ia tratado de um esforço de última hora para assegurar uma coordenação mínima entre dois setores militares distintos: as unidades sob o comando do COPCON e a Marinha, onde a influência do PCP era considerável. Uma vez que o SDCI não dispunha de unidades militares sob o seu comando e boa parte da documentação da sua sede, na Rua Castilho, foi destruída durante a noite de dia 25, não é fácil apurar que papel terá desempenhado aquele serviço de informações nos acontecimentos.
Dirigentes do PCP demarcaram-se do “aventureirismo” da Esquerda Militar e afirmaram que a mobilização dos militantes comunistas foi mais expectante do que atuante. A ter havido alguma expectativa inicial, esta terá sido substituída por uma cautelosa avaliação da correlação de forças.
Note-se que, em entrevista ao jornalista e historiador António Louçã, o Coronel Varela Gomes, que recebeu no SDCI a orientação de seguir para o Alto do Duque, para aí servir de elemento de ligação com o COPCON, não hesitou em classificar a decisão dos paraquedistas como “autónoma e espontânea”, não correspondendo à “quimera de uma qualquer conquista do poder”, mas antes a “uma ação reivindicativa” com “resultados imediatos no plano da confrontação de forças e no plano revolucionário” .
Certo é que sublevação fora precedida por uma intensa contagem de espingardas, com incessantes rumores de golpes militares de esquerda e de direita ao longo dos meses anteriores, pelo que a atuação do SDCI pode ter simplesmente correspondido à ativação de um plano de resposta, previamente preparado para a eventualidade de um confronto precipitado Grupo dos Nove ou pela Direita Militar.
Quanto aos fuzileiros, a unidade que poderia, pela sua capacidade operacional, ter inclinado decisivamente a correlação de forças na Região Militar de Lisboa, há relatos contraditórios. Tanto Rosa Coutinho como outros membros do Conselho da Revolução garantiram que a Base Naval do Alfeite estava em ebulição e os fuzileiros aí estacionados desejosos de apoiar os paraquedistas.
Mas Raimundo Narciso, elemento de ligação entre o PCP e a Esquerda Militar, declarou mais tarde que os Fuzileiros só atuariam a coberto da estrutura hierárquica, neste caso o Presidente da República. E o testemunho do Sargento Carmo Vicente, que terá contactado com o comandante dos Fuzileiros já no dia 26, confirma esse posicionamento.
Escusado será dizer que os dirigentes do PCP, quando questionados sobre o tema, demarcaram-se invariavelmente do “aventureirismo” da Esquerda Militar e afirmaram que a mobilização dos militantes comunistas (muitos dos quais armados), foi mais expectante do que atuante, com a exceção das células de empresa da RTP, do Rádio Clube Português e da Emissora Nacional, bem como de algumas empresas de transportes e construção civil. A ter havido alguma expectativa inicial, esta terá sido rapidamente substituída por uma cautelosa avaliação da correlação de forças e pelo recuo em toda a linha.
Relembre-se que no dia 24 a Confederação de Agricultores Portugueses (CAP) erguera barricadas em Rio Maior, bloqueando a circulação rodoviária entre o Norte e o Sul, ao passo que o VI Governo Provisório estava em greve, em protesto pela incapacidade das Forças Armadas garantirem o seu funcionamento regular. As escolhas e atitudes dos vários protagonistas desta história têm de ser entendidas à luz deste conturbado pano de fundo
Um singular epílogo
O único plano inequivocamente acionado a 25 de Novembro pertencia à componente operacional do Grupo dos Nove, tendo-se revelado fiável e eficaz, ainda que permaneça em aberto o que teria acontecido caso todas as unidades do COPCON e/ou sob comando da Esquerda Militar tivessem apoiado os paraquedistas.
O que parece mais provável é uma vitória dos sublevados na Região Militar de Lisboa, seguida de uma guerra civil travada contra um número muito superior de efetivos das restantes Regiões Militares. Não sendo possível separar por completo a componente militar da componente política, ou antecipar o que teria sido a intervenção de outros países, a especulação a esse respeito afigura-se interessante, mas relativamente inútil.
Certo é que, logo no dia 26, o Major Melo Antunes fez questão de declarar que o PCP era uma força imprescindível à construção da democracia e do socialismo, deixando claro que a resposta à sublevação dos paraquedistas não serviria de pretexto para uma vaga repressiva generalizada. A Direita Militar fez questão de exprimir o seu descontentamento logo nos dias seguintes, pela boca de Jaime Neves e do General Pires Veloso, comandante da Região Militar do Norte, para quem nada menos do que a ilegalização do PCP e uma vaga de saneamentos à esquerda nas Forças Armadas era necessário.
É essa vontade de ajuste de contas – que faria do 25 de Novembro não meramente o epílogo, mas o ponto de reversão do processo revolucionário - que encontra eco, mais de quarenta e cinco anos depois, nas veleidades celebratórias recentes. Revendo os acontecimentos do dia, torna-se claro que este se presta mal às tentativas de o comemorar enquanto o triunfo da liberdade sobre o totalitarismo, ou de fazer dele uma credencial de respeitabilidade democrática.
As linhas de demarcação entre os diferentes campos político-militares foram muito mais ambíguas e o seu posicionamento infinitamente mais complexo. A Direita vai por isso ter de encontrar outro “dia inicial inteiro e limpo” para emergir “da noite e do silêncio”. Há boas razões para supor que não descansará enquanto ele não chegar, e é bastante plausível que se assemelhe mais ao 28 de Maio do que ao 25 de Novembro.