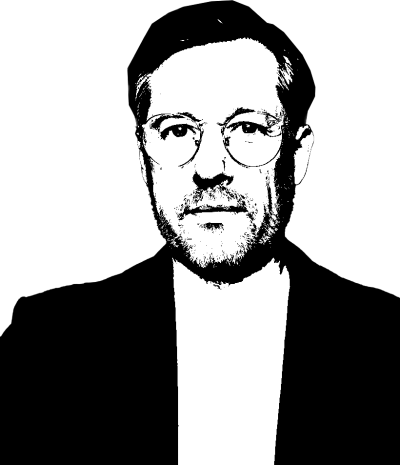Cancelar ou não, eis a questão
Todos devemos ser responsáveis pelas nossas palavras e acções e cada receptor dessas palavras e acções deverá agir de acordo com a sua consciência, mas preferencialmente a nível individual, contrariando o histerismo do cancelamento colectivo.
Em 2004 Bruno Ganz deu vida a um Hitler deveras humano no filme “A Queda”, o que desconcertou o mundo em geral e irritou muito particularmente os alemães. A principal crítica era exactamente esse cariz de homem de carne e osso, capaz de ser carinhoso e atencioso na intimidade, achando que isso lhe poderia diminuir de alguma forma a monstruosidade.
Percebo o desconforto de ver no ecrã um Hitler fofinho mas acho que esta visão só agrava ainda mais tudo o que ele fez. Porque ao invés de o apresentar como psicopata a full-time, o facto de vermos uma mudança radical de comportamento demonstra que ele era capaz de fazer a distinção entre o bem que fazia dentro de portas e o mal que fazia ao mundo. Era consciente das suas acções, das boas e das criminosas, e aparentemente vivia muito bem com isso.
O que, para mim, torna a personagem ainda mais sinistra e perversa. Era uma inversão da expressão “virtudes públicas, vícios privados”, uma vez que agora eram apresentadas as suas desconhecidas virtudes privadas a par com os sobejamente conhecidos vícios públicos.
Lembro-me sempre deste exemplo quando alguém faz uma declaração intencionalmente polémica ou escreve uma crónica incendiária. Ou seja, sempre que alguém opta conscientemente por provocar e ofender, causando deliberadamente ainda mais dor e humilhação a grupos que já têm a sua dose de apedrejamento público ao longo da história, como as mulheres feministas, os gays em toda a sua panóplia, os negros e os ciganos em particular e todas as outras minorias em geral. E penso: como serão estas pessoas na intimidade? Terão família, serão pais ou mães, filhos e filhas de alguém e calculamos que até tenham amigos do peito. Ou seja, na sua intimidade deverão ser pessoas decentes, mas publicamente apresentam-se como carrascos implacáveis.
Aplicam a mesma lógica de manter privadas as suas virtudes, exibindo com alarde os seus vícios. Fazem gala do seu lado menos humano e mais insensível. Um bom exemplo desta postura é aquela que é adoptada em relação ao novo colectivo a abater: a comunidade trans. Da J. K. Rowling ao opinador Henrique Raposo, já foi escrita e dita tanta maldade, quando o caminho lógico seria o inverso, o da empatia ou, pelo menos, respeito. E podem fazê-lo? Claro que podem. Somos todos livres de dizer o que pensamos, não é? Mas quando é que uma opinião legítima passa a ser apenas uma agressão gratuita? E quando isso acontece, como reagir a este abuso?
A solução agora muito em voga é o cancelamento, a chamada “cancel culture”. Quando o diálogo parece ter-se esgotado, quando as posições se extremam vertiginosamente, temos meio mundo a cancelar a outra metade. Os liberais cancelam os esquerdalhas e vice-versa, as mulheres católicas cancelam as feministas, os “passivistas” cancelam os activistas e por aí fora. Quando a mãe do Harry Potter se lançou ferozmente contra a comunidade trans, houve logo um cancelamento geral posto em acção, mas será esta a melhor solução? E até que ponto é que uma postura em relação a determinado assunto deve, por mais grave que seja, ter o poder de anular toda uma existência, toda uma obra, toda uma vida?
A discussão não vem de hoje e um bom exemplo é o próprio Hitler. Ao longo do tempo foi-se tornando pública a lista de colaboracionistas, que incluem desde o escritor Celine à criadora Coco Chanel, só para citar dois nomes de peso. Tanto um como outro não foram cancelados, talvez pela qualidade da sua obra, talvez pelo distanciamento temporal dos eventos, mas o debate surgiu e está longe de terminar. Devemos desculpar alguém só porque “eram outros tempos”? Devemos tentar enquadrar ou pura e simplesmente cancelar, à luz de novas e chocantes revelações? E, em termos práticos, estamos a cancelar exactamente o quê?
Encontrando no terreno da crispação um ambiente fértil para o seu desenvolvimento, a cultura do cancelamento já deixou de ser aplicada apenas a nível individual e avança a passos largos pelo mundo empresarial e pelo mundo em geral, chegando até aos países. Mas… até que ponto as declarações do director de uma determinada empresa espelham a postura de todos os seus trabalhadores? Um CEO pode ter-se alienado irremediavelmente da realidade, mas estará a maioria dos colaboradores dessa corporação alinhada com o chefe? Cancelar uma empresa, deixar de comprar os seus produtos pode, in extremis, levar a quebras nas vendas, nas receitas, originado prejuízos e eventualmente despedimentos. Ou seja, mais uma vez, quando o mar da opinião pública bate na rocha ideológica de um empresário, quem se lixa acaba por ser o mexilhão, ou seja, o trabalhador que nem comunga da dita ideologia. É justo isto?
E faz sentido a cultura do cancelamento ser aplicada a um país, levando um povo a sofrer directamente na pele as consequências das (más) acções dos seus dirigentes? A actual invasão da Ucrânia pela Rússia originou, e bem, uma onda mundial de solidariedade pelo povo atacado, e depois vieram as inevitáveis sanções e, por arrasto, os questionáveis cancelamentos culturais. A música, a dança, a literatura, danos colaterais de um conflito, vítimas mortais de uma cultura de cancelamento.
É justo isto? Por acaso, cá não foi o caso, mas lembro-me de ouvir algumas conversas de desconforto no dia em que fui ouvir um ciclo de concertos chamado “Viagem à Rússsia” na Gulbenkian, com obras de Tchaikovsky, Rachmaninov e Mussorgsky. Foi no dia 13 de Março deste ano e o conflito estava ao rubro. “Que mau timing”, dizia um espectador. “Isto de fazer uma 'Viagem à Rússia' agora… enfim…”, dizia outro. Mas o facto é que o cancelamento aqui não aconteceu e ainda bem, porque temos de saber separar o trigo do joio e não dar a Putin o poder de anular uma herança que não é sua mas do mundo.
Mas apesar disto, há mesmo palavras e acções que não podem passar incólumes. O que fazer, então? Cornel West, o pensador e filósofo americano que trata toda a gente por “brother” ou “sister”, fala a certa altura numa entrevista ao The New Yorker desta postura actual do “say anything, do everything: no answerability at all” que está a minar as democracias, uma espécie de vale-tudo em que a verdade é diluída na mentira, alimentando o neo-fascismo. No entanto, também ele se opõe ao fenómeno da “cancel culture”, preferindo dar uns passos atrás e regressar a uma mais lógica e menos radical “accountability culture.”
Ou seja, todos devemos ser responsáveis pelas nossas palavras e acções e cada receptor dessas palavras e acções deverá agir de acordo com a sua consciência, mas preferencialmente a nível individual, contrariando o histerismo do cancelamento colectivo. Parece-me mais sensato ou menos terminal, porque se nos continuarmos a cancelar uns aos outros vamos acabar por nos cancelar a nós próprios.
P.S.: A leitura desta crónica soa melhor acompanhada por:
Variações sobre um tema rococó, para Violoncelo e Orquestra, op. 33 de Piotr Ilitch Tchaikovsky
Rapsódia sobre um tema de Paganini, op. 43 de Sergei Rachmaninov
Uma noite no monte calvo de Modest Mussorgsky