
Elsa Peralta: os retornados brancos viveram o paraíso em África, mas não passou de uma ficção
Em África havia dinheiro, tempo livre, empregados, pleno emprego, bons ordenados, hábitos modernos de consumo, piqueniques e farras. Antes de serem retornados, os colonos portugueses foram peões no xadrez colonial ao mesmo tempo que desempenharam um papel essencial na subjugação dos povos colonizados. Até serem obrigados a fugir do seu paraíso e a regressar a Portugal.
A pobreza grassava no Portugal de António de Oliveira Salazar quando milhares de famílias receberam incentivos para irem para a África portuguesa, sobretudo Angola e Moçambique, reforçar a ocupação branca e a ideia do Portugal pluricontinental. O Estado Novo exportou a pobreza e usou os retornados como peões no xadrez colonial, delegou-lhes um papel essencial na subjugação dos povos colonizados.
Os retornados chegaram a África com pouco mais do que conseguiam transportar consigo e receberam privilégios que nunca conheceriam no Portugal metropolitano: salário quatro ou cinco vezes superior, casa garantida, modernos hábitos de consumo e ascensão social, tendo à sua mercê uma imensa mão-de-obra forçada nativa, incluindo crianças. “Viveram o sonho do português médio: paraíso tropical, praia, pouco trabalho, empregados”, enquanto conviviam com a segregação racial, justificando-a com o ideário lusotropicalista, disse ao Setenta e Quatro a antropóloga Elsa Peralta.
A Revolução de Abril, em Lisboa, terminou com o “paraíso” que viviam e com ela vieram as independências de Angola e Moçambique. Depois as guerras civis. Entre 500 mil a 800 mil retornados fugiram das antigas colónias para Portugal, ora nas pontes aéreas da TAP, ora em navios. Outros ainda viajaram de carro até à África do Sul, onde ficaram em campos de refugiados até o regime sul-africano do apartheid os expulsar. Deixaram para trás as suas “casas, o modo de vida, os terrenos, os mortos, os cães”. Uma vida.
Os retornados confrontaram-se em Portugal com um país que já não reconheciam e ao qual muitos já não tinham qualquer ligação. Trouxeram consigo sentimentos de perda, de mágoa e de ressentimento, com o poder revolucionário a temer que agissem como quinta coluna para as forças da reação. Não o fizeram e, aos poucos, o Estado português, ainda que apanhado desprevenido, garantiu uma série de apoios para que fossem integrados na nova sociedade democrática. Viveram uma integração silenciosa.

Tão silenciosa que ainda hoje pouco se discute o papel que os retornados tiveram na história colonial; as suas memórias tornaram-se tabu, foram proscritas para o espaço familiar. Décadas depois, é através da literatura e do cinema que essas histórias voltam ao espaço público, renovando um debate no qual a historiografia tem estado omissa. “A memória é feita disso tudo, até pela não seleção deste tema como objeto de interesse historiográfico. Só isso é um processo memorial.”
Foi para aprofundar o debate público em torno da memória dos retornados que a antropóloga Elsa Peralta coordenou o livro The Retornados from the Portuguese Colonies in Africa, publicado em 2021 pela Routledge. O Setenta e Quatro entrevistou-a sobre o livro que explora as memórias, as experiências e as ficções dos retornados.
A história dos retornados é longa, mas tudo começou com uma política de povoamento das colónias. Como vê essa política de estabelecer uma legitimidade de Portugal sobre as colónias?
A política de colonização começa antes de Salazar e do Estado Novo. Inicia-se no âmbito da "corrida para África" após a Conferência de Berlim [1884-85], em que todas as potências queriam ter uma ocupação efetiva do continente. A presença [portuguesa] era muito escassa.
Estamos a falar de um caso típico de exportação da pobreza, era o objetivo muito instrumental de colocar lá gente que vai em condições absolutamente miseráveis, que vem da miséria e vai para a miséria. Aliás, há um nome que lhes é dado, "chicoronhos", quase como uma etnicização diferente. É a ideia dos portugueses de segunda, gente que se cafrealizou, que se misturou com as populações locais. E a mistura é efetiva, sobretudo nesse período.
No Estado Novo há dois períodos a assinalar. Há um inicial, antes da II Guerra Mundial, em que se colocaram grandes restrições à migração de colonos para África com este perfil de exportação da pobreza. Portanto, a migração que se pretendeu promover foi a das pessoas que fossem com a tal carta de chamada, com capacidade de investimento de capital, com profissão e [sobretudo] que não fossem engrossar essa fileira de brancos pobres que existiam na África portuguesa.
"Entre os contingentes locais [nas colónias] eram poucos os brancos em proporção à totalidade da população. Esses brancos tinham uma função: manter a hegemonia branca nas colónias e nas cidades."
Isso muda radicalmente por volta do início da década de 1950, quando se começam a sentir as pressões para a descolonização. Não só dos movimentos de libertação, mas também expressões da nova ordem mundial saída da II Guerra Mundial. Novos países, independentes, passam a ter assento nas Nações Unidas. Podemos dizer que foi a independência da Índia, em 1947, que causou a grande mudança.
Começou-se, então, a promover uma lógica de colonatos, sobretudo em Angola mas em Moçambique também: largos contingentes de pessoas, exatamente para assinalar a soberania portuguesa pela presença de gente branca. Criaram-se os tais colonatos agrícolas, que foram uma autêntica falência: houve um grande movimento de urbanização e as pessoas concentraram-se sobretudo nas cidades.
Em 1951 houve a revisão constitucional, anulou-se toda a terminologia e semântica coloniais, e as colónias passaram a ser as tais "províncias ultramarinas", "de Minho a Timor". O argumento retórico era o da tese do excecionalismo, de que Portugal era um caso ímpar, porque se estendia por diferentes continentes. A realidade efetiva que se verificava era de facto a miscigenação, o que não foi propriamente resultado de uma política dirigida. Era o resultado da circunstância da maior parte dos migrantes da primeira leva serem homens e de viverem num território afastado de tudo. É uma realidade pela fraqueza do alcance da administração colonial, diferente dos impérios francês ou britânico.
Na primeira vaga vão pessoas individuais, maioritariamente homens, na segunda qual o perfil demográfico e sociológico?
Essa é uma questão que sempre me interessou muito. Há no senso comum um estigma muito grande em relação a esta população. Hoje estará mais esquecido, mas no imediato pós-25 de Abril existia a ideia de que estávamos a falar de uma população que vivia muito bem. É uma população muito diversificada, tal como todas as populações. Esse é um dos principais problemas. Nós dizemos "os portugueses", mas quem são "os portugueses"? São do interior, do litoral, têm mais educação, menos educação, são elites, são operários. Quem eram os retornados? Os retornados eram muita gente.
Grande parte dessa gente, sobretudo desta segunda leva e dos que foram para Angola, vinha de Trás-os-Montes, das aldeias que não tinham água canalizada. Meteram-nos num avião ou num barco e "aqui vão vocês para o El Dorado". Pessoas que não tinham os recursos materiais nem os recursos intelectuais para avaliar a sua própria circunstância.
Mas houve uma política de fomento, de incentivos económicos, do Estado Novo.
É um período histórico em que há um desenvolvimento louco da economia colonial. E isso tem que ver com o próprio esforço de guerra, que começou em 1961, e com a alta cotação dos bens coloniais a seguir à II Guerra Mundial. O desenvolvimento da economia colonial não tem paralelo com o que estava a acontecer em Portugal, onde o desenvolvimento estava espartilhado por um conjunto de medidas de política económica. Portanto, em comparação, aqui vivia-se mal, lá vivia-se bem.
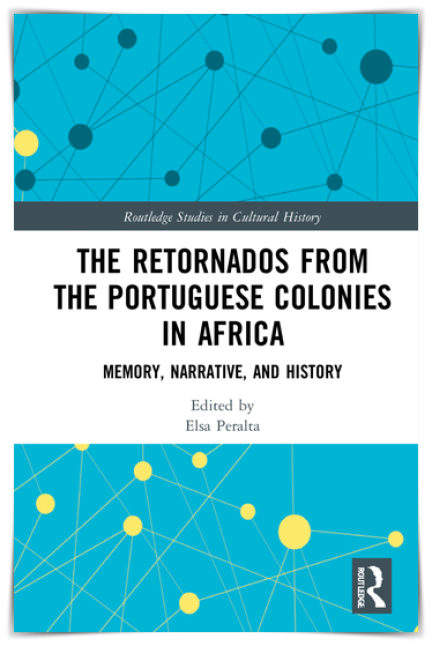
Estamos a falar de percentagens de desenvolvimento económico gigantes, sobretudo em Angola. Foi-lhes [aos portugueses] colocada a hipótese de irem para África quando nesse momento estavam a “dar o salto” para França, fugindo da pobreza e da miséria. E muitos obviamente que foram e voluntariamente, por várias razões. Adriano Moreira, enquanto ministro do Ultramar, encetou no início da guerra [colonial] uma política de abertura e incentivo à migração para África. Quem lá chegava já teria emprego, teria casa muitas vezes. Fizeram-se urbanizações inteiras nas cidades, como Luanda, para receber trabalhadores.
Portanto, um indivíduo que fosse daqui, que não tivesse absolutamente nada, desempregado ou agricultor, ou até se fosse alguém com o mínimo de qualificação, como um eletricista, lá iria logo ocupar uma posição a ganhar quatro ou cinco vezes mais. E com uma casa. Depois havia uma disponibilidade imensa de mão-de-obra gratuita, empregados e tudo o mais. Estamos a falar de uma ascensão social surpreendente. Obviamente que as pessoas aderiram a isso, e em massa. A meu ver, a responsabilidade está nas políticas que fomentaram isso.
A verdade é que houve um uso instrumental das pessoas, uma exportação da miséria. Mas não foi só este o perfil. Também houve muitos funcionários coloniais, engenheiros, pessoas com qualificações muito elevadas para trabalhar em barragens, em diferentes tipos de explorações agrícolas, mineiras. Gente muito qualificada que foi para lá, sobretudo para Angola, onde a grandessíssima massa são pessoas que seriam parte de uma classe média colonial. Tinham uma excelente vida em comparação com a vida que levavam antes aqui.
Como disse, foi também uma reação ao movimento de pessoas que ia para França.
É um movimento paralelo. A mobilização para a guerra também se fazia localmente. Esse é um aspecto muito dúbio e que precisa ser investigado. São raras as pessoas que entrevistei que estiveram nos palcos de guerra. Para longe das cidades, onde a guerra se desenrolava, iam sobretudo pessoas daqui, os soldados metropolitanos. Esses eram logo mandados para lá. Entre os contingentes locais eram poucos os brancos em proporção à totalidade da população. Esses brancos tinham uma função: manter a hegemonia branca nas colónias e nas cidades.
Há colegas que me criticam por acharem que sou demasiado complacente com esta população [de retornados]. Não concordo, falei com muita gente. Se perguntar, sobretudo aos mais antigos, "então e a guerra?", as pessoas começam a falar-me dos acontecimentos de 1975, não da guerra colonial. Sabiam que existia? Sim. Sabiam que viviam numa posição social de grande vantagem? Sabiam. Sabiam que existia racismo, segregação racial? Sabiam, e existia. Agora, nós também sabemos o que se passa hoje em dia no Mediterrâneo. Não nos movemos do nosso conforto. Responsabilizo é o contexto governativo que as pôs lá. É essa a minha posição política e ideológica em relação a isto.
Foram peões, basicamente.
Foram peões em jogo. Isentos de culpa? Não. Sabiam? Sim. Usufruíram? Sem dúvida. Há também diferentes peões. Alguns eram da PIDE, alguns usavam trabalho forçado. Falei com uma família muito típica que vinha de Santarém e que eram médios agricultores. Respondendo aos apelos e aos programas de desenvolvimento rural em África, neste caso em Moçambique, foi incentivada a deslocar-se e deram-lhe grandes fazendas, trabalhadores forçados. O que me dizem? "Sempre os tratámos bem". Têm a obrigação de ter mais discernimento? Sem dúvida.
"Continuamos a replicar a ideia desta confraternização harmoniosa, integrada, racial e culturalmente equivalente entre brancos e não-brancos na África portuguesa."
"Suavizavam" a realidade.
Não posso pedir às pessoas um discernimento individual quando o discernimento coletivo continua a ser a ideologia do lusotropicalismo. Continuamos a ouvi-la. Só em 2016/17 começou a haver uma crítica pública a tudo isso com intervenções de académicos e de associações de afrodescendentes. Continuamos a replicar a ideia desta confraternização harmoniosa, integrada, racial e culturalmente equivalente entre brancos e não-brancos na África portuguesa. Os retornados dizem exatamente isso, é a justificativa que dão sempre. Sempre, sempre.
Portanto, quando eles falam desses "outros" com quem viviam harmoniosamente, sem segregação, estão a falar dos assimilados. Eles próprios dizem, "é preciso é ter cultura para isso". Desde que a pessoa tivesse "cultura" eles não faziam diferenciação. Faziam-na em relação aos nativos. Afinal, havia a Lei do Indigenato, que classificava as populações nesses termos. E mesmo para os assimilados, que eram à volta de 1% da população, tinham condições muito diferentes, embora com acesso a locais públicos. Havia uma elite crioula, local, com muito poder. É sobre esses que estão a falar quando dizem que havia equivalência racial. Não é sobre os restantes 98% com estatuto de não-cidadão até aos anos 1960.
As pessoas brancas viviam nas cidades, onde a sua esmagadora maioria residia, com os assimilados. E depois viviam com as crianças nativas, que muitas vezes se vinham oferecer – ou eram oferecidas – para trabalharem em casa, e que vinham "do mato".
É claro que viviam rodeados dos musseques e sabiam isso tudo, mas também diziam como desculpa, "em Lisboa havia mais barracas que em Luanda", o que não é totalmente mentira, porque existiam de facto muitos bairros de barracas à volta de Lisboa. As pessoas oferecem estas justificativas por não terem os recursos de crítica. Não são os [recursos] intelectuais, mas os de crítica, cultural e social, porque esses recursos também não são disponibilizados pela sociedade civil como um todo e só muito recentemente é que este assunto se discute.
Também há os que dizem, "sim, agora pensando melhor sobre isto, a esta distância, consigo perceber as coisas”. Há uma expressão de um entrevistado que acho mesmo forte, que revela esta inconsciência: "eu nunca pensei que as coisas tinham que ser de outro modo". Portanto, há também quem faça essa reflexão. Mas também há quem, pura e simplesmente, raivosamente, se recuse a aceitar as suas próprias perdas. Porque as pessoas perderam coisas.
Temos as pessoas que vieram pelas duas pontes de Luanda e Nova Lisboa. Houve outros que fugiram de carro para a África do Sul e ficaram num campo de refugiados criado na fronteira. O governo revolucionário português criticou a África do Sul pelo apartheid e o governo sul-africano meteu os refugiados todos num avião e enviou-os para Lisboa. Houve outros que vieram de barco, da Namíbia. Outros agarraram na sua traineira e vieram por aí fora. Outros ficaram, também, naquele período de transição.
Ao mesmo tempo, nos anos 1970, já existia uma ideia de se criar uma colónia de assentamento. Parece que começavam a virar costas a Portugal ao verem-se como nativos.
Essa questão é muito bipolar. Por um lado, há quase como um nacional-imperialismo interiorizado nos discursos deles – "Portugal é que é a minha pátria" –, toda a imagética dos Descobrimentos, toda essa narrativa mitológica. Mas não há só um lado. A ideia deste livro é exatamente essa, trazer as múltiplas narrativas – e não estão aqui todas – dos próprios e de outros em relação aos próprios.
Para se perceber como se vivia no Portugal dos anos 1950 e 1960 não era preciso ir a Trás-os-Montes, bastavam os arredores de Lisboa. Tirando uma elite mínima, que de facto tinha condições, que viajava e tinha acesso a um consumo diferente, não havia nada. Depois estamos a falar de uma sociedade moldada, ainda que em termos fictícios, porque na verdade tudo aquilo era ficção, as pessoas lá tinham empregados, tinham frigorífico, tinham tempo livre. Não precisavam de Portugal para nada. Quantas vezes me disseram que quando souberam da Revolução disseram "aquilo é lá com eles".
"Houve um Estado Social [para os retornados] quando ele não existia. Mas também houve pessoas a viver em situações precárias e que passaram por situações complicadas. Não ponho em causa o sofrimento real destas pessoas."
As pessoas queriam ficar. Queriam ficar no paraíso, porque viviam no paraíso. Havia dinheiro para tudo, havia tempo livre, havia empregados para tudo, havia pleno emprego, bons ordenados. E ao mesmo tempo [era] uma sociedade muito provinciana que nunca tinha saído da aldeia e, portanto, estavam ali, também não queriam mais, não tinham outros horizontes. Imagine-se uma pessoa que vem da pobreza, do frio, e que está ali, vai à praia, tem as farras, tem os piqueniques. Muitos nem queriam aproveitar a "graciosa", uma licença paga de quatro em quatro anos, para virem a Portugal.
Este é um padrão e dentro dele há dois tipos. A maior parte deles achava que iria haver [depois do 25 de Abril] um governo de minoria branca. Também já ouvi quem dissesse "eu não me importava que fosse um qualquer, desde que a gente tivesse um governo misto". O que não queriam era uma coisa à MPLA ou à FRELIMO, "o Partido requisita". Tinham duas casas, o partido requisitava uma. Tinham três carros, o que era comum, o partido requisitava dois. "O partido requisita". A ideia da distribuição. Houve também alguns abusos nessa altura, como os campos de reeducação, sobretudo em Moçambique, etc.
Por isso não quiseram ficar [depois das independências de Angola e Moçambique]. A grande fuga foi de Angola. E foi repentina, por causa da situação de guerra civil. Os de Moçambique puderam ficar, ao abrigo do Acordo de Lusaka, para fazer a transição, para não abandonarem as empresas, as pescas, todo o funcionamento da economia. Pouco tempo depois a maior parte acabou por voltar, porque a vida que tinham, o paraíso, já não ia existir sob um governo da FRELIMO. É claro que este foi o raciocínio da pessoa comum.
Também houve brancos que aderiram aos movimentos e que lá ficaram, adoptaram a nacionalidade.
Por que é que esses brancos aderiram? Havia comunistas entre os colonos?
Estamos a falar de uma minoria. Uma das reclamações feitas pelos próprios [retornados] é que eram apolíticos, não se metiam em política. Não queriam saber de política, porque a política não estava com eles. É muito este o argumento. Mas é o mesmo que se ouve, por exemplo, em relação aos migrantes nos bidonvilles em França. Numa parte da sua investigação, o [historiador] Victor Pereira viu uma tentativa do PCP em cooptar os portugueses que viviam naquela altura nos bidonvilles e muitos reclamavam-se apolíticos.
Era também o espírito da época. Havia todo um ambiente político de politização marxista que atravessava o mundo naquele período. Existiam partidos comunistas que apoiavam os movimentos de libertação. Então, houve pessoas, localmente, das elites, que também aderiram. E mesmo das elites não-brancas, das elites crioulas. Houve dois grupos minoritários da elite branca ou mestiça. Um a favor da independência e de um governo branco; houve até milícias organizadas nesse sentido à moda da África do Sul ou da Rodésia. E há outro grupo, pan-africanista, que queria uma independência negra e de inspiração marxista, um movimento de libertação nacional, com alguns brancos envolvidos neles.
O livro afirma que, ao chegarem a Portugal, os retornados não se incluíram na narrativa do império nem na da revolução. A integração silenciosa foi um ato político para garantir paz social? Como foi a integração dos retornados não-brancos?
Na questão da integração, concordo com o Bruno Góis [doutorando em Antropologia e um dos autores do livro] quando diz que só podia ter havido reintegração. A grande massa de pessoas – não terá sido para todos assim – tinha saído e voltado, não estavam totalmente fora do que era isto [a realidade em Portugal]. Compare-se com o caso dos pieds-noirs em França, são uma mistura: malteses, italianos, franceses. Há muitas gerações que estavam nas colónias. Quando chegaram a França foi, de facto, um choque. Há uma identidade, há uma etnicidade diferenciada e eles fizeram questão de o mostrar. Aqui não. Voltaram e depois? A meu ver há uma decisão que vem de cima para baixo.

A lei de Almeida Santos, de 1975, foi atroz. Não sei o que faria no lugar de um decisor político, mas temos em 1957 uma lei que diz que todo o indivíduo que nasça em território português é português. A de 1975 diz que só é português o indivíduo que nasça em território português, que seja filho, neto, de portugueses. Almeida Santos faz esta mudança e justifica-a abertamente com uma frase em que diz que não queria que "Lisboa se tornasse como Londres", na capital mais africana da Europa. Foi, basicamente, vedada a cidadania a todos aqueles que não tivessem ascendência portuguesa. Daí haver muitos não-brancos mestiços. Havia casos particulares de militares, mas sobretudo era este o quadro.
Quem vem são os brancos e os mestiços. Os mestiços são os assimilados, filhos, por exemplo, de pai branco e mãe negra, que era o quadro mais comum. Alguns desses assimilados faziam parte das elites, outros nem tanto, portanto vêm numa situação diferente dos brancos, certamente, mas vêm integrados cultural e ideologicamente.
Para os brancos houve muitas facilidades dadas pelo Estado. Isso tem que ser sublinhado. Houve um Estado Social quando ele não existia. De repente, foi criado um Estado Social, houve imensos apoios. Mas também houve pessoas a viver em situações precárias e que passaram por situações complicadas. Não ponho em causa o sofrimento real destas pessoas; elas sofreram: perderam a casa, o modo de vida, os terrenos, os mortos que lá deixaram, os cães. Foi duro. Agora, ninguém foi totalmente abandonado. O Instituto de Habitação construiu casas para as pessoas.
Mas é prevalente essa narrativa de terem sido abandonados. Houve um verdadeiro acolhimento?
A meu ver, houve. Houve programas de habitação, empréstimos a fundo perdido, apoios para a criação de empresas. Houve dinheiro, montes de dinheiro, para a integração das pessoas. Agora, se as pessoas foram viver em hotéis durante dois anos, sim, com certeza. O logro ou o problema não estão aí. Posso criticar a descolonização. É evidente que aquilo em Angola era uma bomba-relógio, aquilo ia correr mal. Ninguém quer viver com crianças no meio de tiros por todos os lados.
Qual é a grande diferença na integração? O papel social das famílias. Como no livro da Isabela Figueiredo [Caderno de Memórias Coloniais, de 2009], muitos voltaram para a aldeia, voltaram para situações que tinham abandonado, e tudo isso foi altamente traumático. Mas houve esse apoio social, das redes familiares e locais. Tanto que há uma distinção entre o que são os retornados do IARN [Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais] e os retornados não-IARN. Todos terão recebidos auxílios, subsídios de emergência, apoios para criação de emprego, integração no quadro nacional de adidos. Não nos podemos esquecer que muitos chegaram cá e foram logo integrados com empregos. Houve um período de transição, mas foram integrados.
Ora, os que lá estavam há muitas gerações ou os que tinham nascido lá, filhos de algum progenitor não-branco nascido lá, não tinham redes nenhumas cá. Foram esses que dependeram mais do IARN, dos mecanismos de assistência do Estado e foram aqueles cuja vida foi mais perturbada e que desceram mais na escala social.
"É preciso falar, mas não do retornado que é malandro. É preciso falar dos mitos e das ficções. Da ideia dos pioneiros, da nossa presença em África."
Grande parte desses eram não-brancos. São essas pessoas que ainda hoje vemos no Vale da Amoreira. Os outros, e já num período de transição, integraram-se numa altura em que o país começou a receber dinheiro para a inserção na CEE, numa economia de mercado, começou a haver investimento público, dinheiro a cair. As pessoas integraram-se em dez anos, porque as condições para a integração eram favoráveis. Por exemplo, os móveis da Huíla e o Café Império surgiram nessa altura. Isso também veio dinamizar a economia: uma população que tinha pouca mão-de-obra masculina pôde absorvê-la.
Agora, os não-brancos estavam numa situação mais precária. Para já, porque têm que contar, do ponto-de-vista da integração na sociedade portuguesa, com o estranhamento relativamente ao não-branco. Nos inícios dos anos 1970, tirando os poucos cabo-verdianos que migraram nos anos 1960, quase não existiam negros em Lisboa. Portugal era um país branco. O estranhamento, o estigma, o racismo. Depois a falta de redes de apoio. São sobretudo vistos e confundidos com os migrantes que começaram depois a chegar a Portugal. Portanto, o não-branco é imigrante. Desde então que é assim. Quando alguém não-branco vem para a televisão dizer "eu acho que devia ser assim", há sempre alguém que diz "devias era ir para a tua terra". E continua a ser isto: o não-branco como imigrante.
Depois vieram também muitos refugiados. Aí sim, sem direito de cidadania, e dá-se aquilo que podemos ver: pessoas sem acesso à nacionalidade anos e anos, e o replicar de toda essa situação de exclusão durante gerações.
Nessa raiva de regresso de uma parte dos retornados há uma crítica voraz a Mário Soares, a todo o processo de descolonização. Os retornados vieram em pleno PREC, acha que o poder político da altura tinha receio que pudessem ser uma quinta coluna ou uma base social de apoio fértil para a extrema-direita?
Claro, sem dúvida. Antes estavam lá e estavam bem, há a descolonização, que teve estas caras, estas figuras. Se podiam ter feito uma descolonização diferente? Tenho muitas dúvidas. O exército sul-africano estava na fronteira. No palco da Guerra Fria nós éramos muito pequeninos. De facto, as pessoas vieram revoltadas. Não sei se chegaram a perceber o seu papel e a condição de peões em todo o processo. Portanto, revoltaram-se. É aquele processo das fases do luto, da negação à aceitação. Acho que ainda estão em negação.
Daí o sentimento de desilusão, de melancolia, de perda, quando regressaram e poderiam ter sido explorados pelas forças da reação, mas acabaram por não o ser.
Acabaram por não o ser. O facto de ter havido uma reintegração, de terem existido apoios; as pessoas continuaram com a sua vida. E depois há também uma normalização da sociedade portuguesa e na política. Só não encontrei, nas entrevistas que fiz, alguém que me dissesse que vota ou votou no Partido Comunista. De resto, Bloco de Esquerda, PS, PSD, CDS. Agora, se são tendencialmente de direita? Sem dúvida.
Os retornados são hoje uma base social de apoio da direita?
Acho que não. Podem vir a ser? Não sei. Podem os filhos, por causa da memória intrafamiliar, da transmissão do ideário colonial. Mas esse ideário está distribuído na sociedade portuguesa. Não é exclusivo dos retornados.
A importância da transmissão da memória intrafamiliar pode ser uma consequência da não-memória na sociedade? Com o PREC houve quase uma tábua rasa, não se fala dos combatentes, não se fala dos retornados, das redes terroristas de extrema-direita, depois com as FP-25 há uma amnistia para garantir esse ajuste. Essa não-memória enfraquece o debate ou ele está a desenvolver-se?
É a conversa de Marcelo Rebelo de Sousa: "vale mais mantermos as coisas assim, e não falar muito, não levantar poeiras, porque ainda abrimos a caixa de Pandora". Como académica, analisando o processo – não sou historiadora, sou antropóloga, vou fazê-lo de ângulos diferentes, embora me nutra na história – diria que isto faz parte dos processos memoriais nos períodos de transição. Quando não há outras coisas a fazer, temos a tal justiça transicional, temos as comissões de verdade, as reparações.
"Os retornados também terão sido eventualmente vítimas por terem sido peões. Em vez de acusar, interessa-me perceber o significado real das coisas para as pessoas. É este debate que tem que se ter, e tem de ser honesto."
No caso português, acho que não haveria necessidade em relação aos retornados. Foram peões. Não acho que tenham sido deixados desamparados pelo Estado. Se era o apoio desejável, se foi um excelente apoio, é difícil avaliar. Estamos a falar de uma massa populacional enorme que chega de repente e sem nada. Critico mais, por exemplo, a lei da nacionalidade e a maneira como foi feita, acho que foi muito mais atroz.
Mas as feridas voltam mais cedo ou mais tarde.
Acho que voltam sempre, sem dúvida. Assassinaram o Bruno Candé em Moscavide. É preciso falar, mas não do retornado que é malandro. É preciso falar dos mitos e das ficções. Da ideia dos pioneiros, da nossa presença em África. Mas qual presença em África? Não havia lá nada antes do final do século XIX. Havia uns postos costeiros, muitas vezes entrepostos esclavagistas. O que existiu depois foram as campanhas de pacificação [de 1841 a 1926], que de pacíficas não tiveram nada. Lá ficaram os militares, os degredados, os cafrializados, uma administração colonial que era um chefe de posto.
A presença começou a existir depois de Salazar abrir as economias metropolitana e colonial ao investimento estrangeiro. Houve um boom económico brutal e foi tudo para as cidades. É o que os retornados dizem, "bebia-se Coca-Cola, nós não temos nada que ver ali [com a metropole]". Era uma vida moderna, ouviam música, vestiam mini-saia, tinham consumos próprios que circulavam no mundo anglo-saxónico e passavam por ali. Viviam no “Havai”.
Por exemplo, quando os retornados chegaram a Portugal, criaram o jornal O Retornado, onde se nota uma radicalização, uma perda, uma raiva. Mas os próprios retornados deixaram esvaziar esse jornal.
O Retornado fechou em 1981 e esse sentimento - “somos isto e aquilo, vamos fazer” - durou até esse ano. Os apoios do IARN tiveram um pico em 1975, em 1979 já estavam cá em baixo, havia uma percentagem ínfima de pessoas retornadas que dependiam da ajuda do Estado. Esses depois foram integrados nos mecanismos da Segurança Social. O próprio IARN foi extinto, deixou de haver necessidade. Não há núcleos de marginalidade social, de desemprego, em que possamos identificar nichos específicos de retornados [brancos e mestiços]. O que é que faz com que as pessoas adiram a movimentos de extrema-direita? O desemprego, a fome. A desidentificação, a perda, a mágoa, o ressentimento, isso tudo ficou lá [nas antigas colónias]. A população velha passou isso aos mais novos? Eventualmente.
De certa maneira a memória e a pós-memória substituem a História e a historiografia, ainda que se complementem. Não haverá uma falta de trabalho historiográfico sobre estas pessoas?
Há. Um dos colaboradores do livro, o Christoph Kalter (que é estranhíssimo por ser um alemão a fazer isto) vai publicar o livro Postcolonial People – The return from Africa and ther Remaking of Portugal, pela Cambridge University Press. Ele fez esse trabalho historiográfico, e uma das coisas que diz é isso: há muito trabalho de memória e pouco trabalho historiográfico. É importante fazer a historiografia do IARN.
Nos últimos anos temos visto também a prevalência da memória e da pós-memória na cultura, na representação artística da história dos retornados. Por que é que este assunto está agora a voltar? É uma vontade de ir buscar raízes? É melancolia pós-colonial?
Às vezes começa pela arte, pela produção cultural. Sobretudo quando são assuntos tabu. A diferença do tabu e da censura é ser mais fácil as coisas emergirem num contexto pós-censura que pós-tabu. Porque o tabu é de facto uma coisa de que não se fala. Há muitas pessoas que conheço que são retornados ou filhos de retornados, que não dizem que nasceram ou viveram em Angola. É quase uma omissão tácita. Porque também me lembro de ser bem criança e ouvir a minha mãe dizer, "olha, aquele ali é retornado". Não era mais do que isto, mas isto é um estigma. As pessoas decidiram invisibilizar-se, a vida correu, e elas remeteram isso para o seu universo privado, doméstico.
Para se aceder a este universo, acho que não é pela historiografia, é pelas artes, pela literatura, por uma abordagem mais sensível. Agora, a memória é feita disso tudo, também é feita pela historiografia, até pela não seleção deste tema como objeto de interesse historiográfico. Só isso é um processo memorial. Porque é que teve de ser um alemão a fazer a historiografia do retorno?

Acha que estamos a correr contra o tempo para fazer este trabalho?
Acho que há vários fatores. Quando há um acontecimento de ruptura, uma dissociação, um conjunto de problemas, geralmente é preciso tempo. Depois há o facto dos seus protagonistas serem de facto já pessoas idosas e, eventualmente, isso é um aspecto importante, porque as pessoas com mais idade têm menos energia para se mobilizar, para fazer crítica pública. Há uma urgência, porque as pessoas estão a morrer, sem dúvida. Há uma moda – e isto não é pejorativo – mas uma moda de crítica pós-colonial, que é algo que entra na agenda académica, na agenda do discurso político, do discurso público, e que traz consigo também os retornados.
Foi assim que eu vi este tema assim que o comecei a estudar. “Já conheço o Outro, o excluído, então, e estes?” Fartei-me de ler coisas sobre os pieds-noirs, tinha interesse sobre esse tema veio nesse sentido, acabou por ser uma sincronicidade. A Isabela Figueiredo publicou o livro [Caderno de Memórias Coloniais] em 2009, a Dulce Maria Cardoso [O Retorno] em 2011, e por volta dessa altura comecei a interessar-me por este tema, quase como se tivesse havido uma abertura. Não combinámos. Há momentos propícios e também foi o momento da crise, da troika. Veio abrir espaço para expressões ideológicas que estavam relativamente escondidas na sociedade portuguesa.
Como não há uma narrativa dominante sobre os retornados, a memória torna-se um espaço de disputa, mas também de vazio.
Sim, é uma forma das pessoas se inserirem nesse debate, há um aspecto genuíno. Tive uma bolseira neste projecto que nasceu em África em 1973, veio com um ano. É a filha mais nova de quatro irmãos e a grande dor dela era a ausência de memória que os outros irmãos partilhavam. Ela só tinha essas memórias diferidas. E isso provocava-lhe um vazio existencial, [a investigação dela] era uma coisa até terapêutica. Acho que a questão das memórias não vividas, das memórias prostéticas, é sobretudo para as pessoas se posicionarem.
"Eu sou angolano e sou português", esta dupla nacionalidade é a mesma coisa que dizer "Portugal do Minho a Timor", porque "Portugal é o meu país e Angola é a minha terra". Ouvi isto não sei quantas vezes. Tal como "eu sou de Viseu" ou "eu sou de Lisboa", "eu sou de Angola". Só que aqui o "Angola" é uma terra que está longe no tempo, na memória, no espaço. É uma terra fictícia e isso pode ter uma carga emocional muito maior, e às vezes isso é perigoso.
Ir buscar esse mito espelha o vazio existencial pós-imperial português.
Acho verdadeiramente que é isso. Numa exposição que fiz, que depois resultou no livro [Retornar – Traços da Memória do Fim do Império], nós colocámos no sítio onde estavam as caixas, captadas pela lente do Alfredo Cunha, a "cidade de madeira", as fotografias que também descobri na Torre do Tombo. Gosto muito mais dessas – a meu ver, as fotografias do Alfredo Cunha também esteticizam um bocado o processo – e as reais, que estão na Torre do Tombo, mostram uma dimensão brutal de caixotes e caixotes e caixotes. E agora não está lá nada.
Continuamos a ter o Padrão dos Descobrimentos, a própria reabilitação dessa feição celebratória. Na exposição que fizemos coloquei lá uns contentores, enormes, empilhados, e depois pus a fotografia do Alfredo Cunha, mas estilhaçada, para ter uma remissão para o que aquilo queria significar. Porque lá está, é esse vazio de memória, do império. O império correu lindamente para essas pessoas que estiveram 20 anos em Angola a comer o sorvete no Baleizão, a passar as tardes no cinema. Isto é o sonho do português. Eles viveram o sonho do português médio: paraíso tropical, praia, pouco trabalho, empregados.
É isto, o império é isto. Há vítimas disso, os colonizados, sem dúvida. Há diferentes graus. Os retornados também terão sido eventualmente vítimas por terem sido peões. Em vez de acusar, interessa-me perceber o significado real das coisas para as pessoas. É este debate que tem que se ter, e tem de ser honesto. Estas pessoas têm de deslocar a culpa em relação às suas próprias perdas e perceber qual o lugar que ocuparam. É esse o trabalho memorial.



