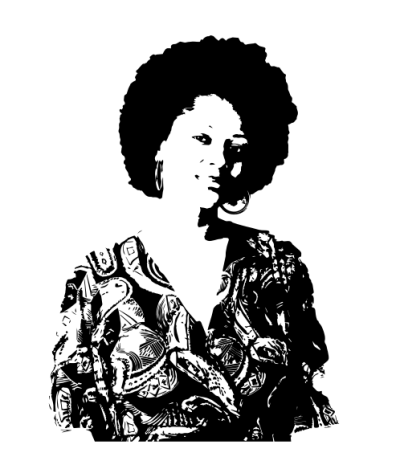Um livro onde pousar a arma
Augusta Conchiglia escolheu deixar o seu país, o seu continente, os seus privilégios de mulher branca e ir para onde estava a ser travada a luta de libertação. Viveu no mato sob as mesmas condições que os angolanos e comeu enlatados quando os havia. Continuou a ser mulher e branca, mas ocultou o seu rosto para nos dar a conhecer os de tantos outros, alguns vivos, outros já não.
A exposição Augusta Conchiglia - Nos trilhos da Frente Leste está patente desde Julho no Museu do Aljube, em Lisboa. Com curadoria de Rita Rato e José da Costa Ramos, imagens e sons da luta de libertação em Angola podem ser acedidos até 31 de Dezembro. Por insistência e dedicação de Maria do Carmo Piçarra, defensora acérrima da importância desta obra, foi possível a Conchiglia vir recentemente a Portugal para um dia dedicado a homenagear o trabalho de uma mulher que tornou outras mulheres visíveis, enquanto ela mesma passava e passa ainda por diversos estágios de invisibilidade num mundo patriarcal.
Acompanhada por Stefano de Stefani, Conchiglia entrou clandestinamente em Angola em Abril de 1968, percorrendo os caminhos dos guerrilheiros do MPLA durante quase meio ano. O seu objectivo era alertar a comunidade internacional para a situação política no país, no entanto a importância do seu trabalho ultrapassa o tempo em que foi realizado.
No livro História Ilustrada, do Movimento Popular de Libertação de Angola, a introdução conta que Paulo, o protagonista que representa a juventude angolana, se torna "livre na consciência que se entrega ao povo; livre na montanha e na floresta, alimentando a guerrilha; livre na clandestinidade das cidades e da sanzalas". O livro, publicado em Setembro de 1974, mostra homens e mulheres juntos e empenhados em resistir ao colonialismo e a reconstruir o seu país. É um livro de quem fez a revolução a contar a sua própria história.
Já o livro de Augusta, Guerra di Popolo in Angola/Guerre du Peuple en Angola, foi publicado em 1969 e conta a história de quem ainda não podia contá-la, apenas fazê-la. O que vemos no Aljube é um pequeno fragmento das milhares de fotos tiradas por Conchiglia. O que vemos, ainda assim, conta-nos mais do que todas as exposições fotográficas feitas em Portugal sobre o tema, normalmente obcecadas pela violência, como observado por Afonso Dias Ramos, historiador de arte.
Ambos os livros fixam um quotidiano angolano durante e apesar da guerra, contextualizam uma existência, uma normalidade à qual também se pretendia voltar, uma vez pousadas as armas e declaradas a vitória e a independência. Já nos recordava Amílcar Cabral que os livros seriam as verdadeiras armas intemporais que nunca deveríamos abandonar, enquanto militantes armados e não militares, apesar da posse e da necessidade temporárias de uma arma. Essa intelectualidade abafada nos registos que nos vão chegando, ou que quem os produziu optou por não captar, é outra dimensão do que a máquina colonialista se esforçou por invisibilizar e cujos sintomas experienciamos até hoje.
A convite de Piçarra, vários académicos e artistas se debruçaram sobre o significado do legado de Augusta Conchiglia. O fotógrafo Herberto Smith destaca a relação de confiança que permitiu à fotógrafa desaparecer o suficiente para que os guerrilheiros e guerrilheiras se mostrassem em posição quer de força quer de doçura no olhar; a tal humanização da guerrilha, como notava Dias Ramos. Maria-Benedita Basto, Professora associada da Faculdade de Letras da Sorbonne/Crimic/IHC, aponta para a fotografia como um acto de igualdade, enquanto o arqueólogo Rui Gomes Coelho denuncia o contraste da doença da acumulação arquivista colonial, maioritariamente sem autorização dos próprios ou dos seus familiares, anonimizando ainda muitas vezes a autora.
Pergunto, na parte da manhã, na Universidade Nova, onde nos debruçamos sobre estes temas, se Conchiglia teve oportunidade de ensinar alguém a usar a máquina fotográfica, se houve curiosidade ou disponibilidade para aprender, apesar dos tempos e da falta de tempo. Se encontrou mulheres fotógrafas, nacionais ou estrangeiras pelo caminho. A resposta a ambas as perguntas é não. Faz-nos pensar no privilégio de ter uma camâra e tempo de usá-la, no privilégio de possuir um álbum de fotografias, no privilégio da liberdade de circulação de corpos e de imagens representativas desses corpos, da paz mental e espacial requerida, das condições financeiras para tal.
Faz-nos pensar ainda em como esta jovem, pelos vinte anos de idade na altura, se mostrou, mais do que uma aliada, uma cúmplice. Cúmplice pois houve estabilidade na sua aliança, pois compreendeu que matar as mulheres, de forma figurativa ou não, é matar a verdade; pois retratou a comunidade como a própria se retrataria se pudesse, isto é: cabem nas suas fotografias armas, pensamentos, homens, mulheres, o ensino, cabem crianças.
Não há vampirismo, mesmo havendo dor, não há sexualização nem extrativismo e sim orgulho, queixo erguido, resistência, companheirismo. Das descrições dos objectos fotográficos constam palavras como povo, alfabetização, maternidade, doutrinação política, crianças, guerrilheiro, guerrilheira. Constam nomes das pessoas retratadas: Bela, Kudila, Catarina. Consta, sem estar escrito, o respeito pela luta alheia que tornou sua e da qual nunca mais se desvinculou. Sem esse respeito as fotos, se as houvesse, seriam certamente muito diferentes das que podemos agora ver.
Augusta Conchiglia escolheu deixar o seu país, o seu continente, os seus privilégios de mulher branca e ir para onde estava a ser travada a luta de libertação, vivendo no mato sob as mesmas condições que os angolanos, comendo enlatados quando os havia, num estado de racionamento das condições mais básicas, em vigilância e movimento constante e estratégico, em perigo. Continuou a ser uma mulher e continua a ser branca, mas ocultou o seu rosto para nos dar a conhecer os de tantos outros, alguns vivos, outros já não. Sobretudo revelou-se uma feminista.
Travou amizade com o Comandante Júlio de Almeida (Juju), com Mário Pinto de Andrade, Sarah Maldoror e Thomas Sankara. Augusta é de um tempo em que os líderes estavam mais preocupados em fazer a revolução do que em serem fotografados, como nos conta perante fotos de Agostinho Neto e de si mesma, surpreendida por alguém a ter captado também.
Recordamos as palavras de Sankara no seu discurso A libertação da mulher: uma exigência do futuro, versão de Sónia Vaz Borges em Venceremos! Discursos escolhidos de Thomas Sankara (Falas Afrikanas, 2020). "Trata-se de exigir, em nome da revolução, que veio dar não tirar, que seja feita justiça às mulheres. A libertação das mulheres é uma exigência do futuro, e o futuro, camaradas, é portador de revoluções em toda a parte. (...) Que os meus olhos nunca vejam uma sociedade, que nunca os meus passos me transportem para uma sociedade onde metade das pessoas é mantida em silêncio. Escuto o ruído do silêncio das mulheres, pressinto o rugido da tempestade dela, sinto a fúria da sua revolta. Peço e espero a irrupção fecunda da revolução, cuja força e justiça rigorosa elas traduzirão a partir das suas entranhas de oprimidas."
À cabeça um livro, nos ombros uma espingarda, ao peito um colar de balas, às costas uma criança, nos pés o mundo. Obrigada, Augusta.