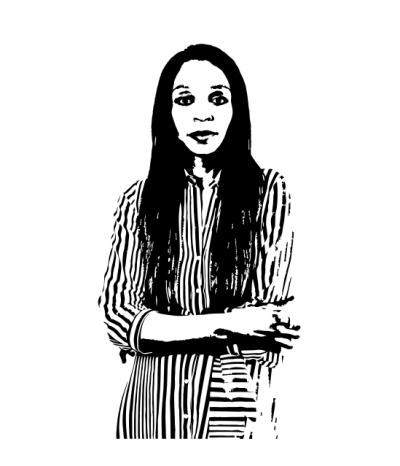Procuro a minha história
Nesta velha prática de romantizar e ‘eurocentrar’ a História, como insistir na narrativa dos “heróis do mar”, e ao mesmo tempo acolher heróis africanos que os desafiaram?
Na infância cabiam todos no álbum de casamento dos meus pais. Avós, tios, primos…Moçambique inteiro naquela série de fotografias a preto e branco.
Perdi a conta às vezes em que escrutinei cada retrato, em busca de uma familiaridade brevemente vivida, porém organicamente reconhecida.
Quanto de quem sou já estava registado antes de eu nascer? Que expressões da minha ancestralidade se manifestam em mim? De que forma o meu bisavô materno, Ng Deep, foi parar a Moçambique? Como honrar as tradições medicinais da minha linhagem, reprimidas em séculos de perseguições pseudo-civilizatórias?
Avanço na idade adulta ainda com mais perguntas do que respostas, e reflicto sobre como as ausências que marcam a minha história são comuns a tantas outras famílias africanas na diáspora. Afinal, somos todos herdeiros de um passado de desenraizamentos forçados – geográficos e afectivos –, normalizados por sistemas de opressão eficazes em produzir o nosso apagamento.
Primeiro com o tráfico transatlântico de seres humanos, depois com o colonialismo, e agora com o racismo estrutural, as lógicas de silenciamento e invisibilização das comunidades negras persistem, e, com elas, agrava-se o seu impacto traumático.
Importa conhecer, por exemplo, “a que sequelas ficamos sujeitos quando nos ocultam a verdade acerca das nossas origens?”.
A reflexão contida nas palavras do pedopsiquiatra Gilles-Marie Vallet marca a minha leitura do livro As minhas estrelas negras, de Lilian Thuram, ao promover uma releitura decisiva da minha história.
Apercebo-me que, com ou sem intenção, consciente ou inconscientemente, os silenciamentos e silêncios sobre o passado criaram e aprofundaram vazios.
“Os danos ocorrem sobretudo no plano identitário”, comprova Gilles-Marie Valet, lembrando que a História negra está povoada de figuras a quem o próprio nome foi saqueado.
Comprovo-o na minha linhagem materna e, recordo-me de estranhar, ainda na infância, o desencontro entre a portuguesidade do nome do meu avô Hari Domingos e a sua ascendência chinesa.
Na altura explicaram-me, com a contextualização possível para a criança que era, que o sistema colonial forçava esse e outros apagamentos.
A minha ancestralidade de heróis
Regresso agora a esse flash de memória, enquanto procuro resgatar a história de quem sou, a partir de quem venho. Começo pela costela sino-moçambicana, consciente de que a luso-moçambicana também precisa de ser reconstruída.
Nesse processo, encontro o meu bisavô Ng Deep, referenciado também como Ng Kei Yu, e emociono-me com cada peça que consigo recuperar para o meu puzzle de afectos.
Começo por entrevistar a minha mãe, que me fala da possível existência de um livro com fragmentos dessa história. Talvez o Daniel, que me habituei a conhecer como “o primo do Algarve”, possa dar uma ajuda, sugere.
Enquanto isso, o ensaio de Eduardo Medeiros, intitulado Os sino-moçambicanos da Beira - Mestiçagens várias, encarrega-se de aguçar ainda mais a minha curiosidade.
Nele leio que o meu bisavô foi secretário da primeira direcção da Associação Chinesa –igualmente conhecida por Clube Chinês –, criada em 1922 na Beira, e aprovada pelo regime colonial no ano seguinte.
Noutra referência escrita, chego à história do meu tio-avô Chong Ching Ing Deep, pai do “primo do Algarve”, e um dos 14 filhos do bisa Ng Deep, a par do avô Hari Domingos, que não cheguei a conhecer.
Cresci apenas com a presença da sua imagem no casamento dos meus pais: alto, elegante, dono de uma postura invejável que, em criança, associava a alguma rigidez.
Hoje sei que a verticalidade que a minha memória gravou vai muito além da linguagem corporal.
Conta-me a minha mãe que o meu avô Hari esteve uns longos 10 anos desempregado. Acrescenta a minha prima Tininha que esse foi a preço a pagar em defesa da honra: não aceitou ser destratado por um colono.
O episódio faz-me recuar a um pedido editorial que me dirigiram há pouco mais de um ano: haveria alguma história ‘estilo Rosa Parks’ que se tivesse passado nos territórios ocupados?
“Deve haver várias”, pensei imediatamente, e, também prontamente, sugeri uma via humana de acesso a essas narrativas.
Não houve tempo para concretizar a proposta, explicaram-me mais tarde, sem que me conseguissem surpreender com o desfecho.
Afinal, nesta velha prática de romantizar e ‘eurocentrar’ a História, como insistir na narrativa dos “heróis do mar”, e ao mesmo tempo acolher heróis africanos que os desafiaram?
O meu avô foi corajosamente um deles. Afrontou o regime de cabeça erguida e não cedeu diante da desumanidade dos mecanismos de controlo e humilhação implementados pelo regime colonial.
Conhecer as lutas que travou é reconhecê-lo e honrá-lo.
“Só agora, volvidos esses anos é que compreendemos a heroicidade dos avós. Manter uma família com 12 filhos, estando no desemprego, é uma tarefa hercúlea digna de poucos. Proporcionar mantimentos, educação, saúde, e nenhum ter caído na mendicidade e marginalidade é obra”.
Faço minhas as palavras do meu tio Abel, e reforço, a cada troca ainda incipiente de mensagens entre Lisboa e Maputo, o propósito de juntar ao velho álbum de memórias familiares um registo biográfico e literário. Pela minha história e para além dela.
A autora escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.