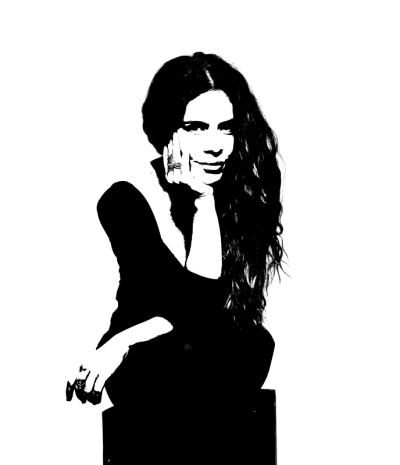O desconforto necessário
Por mais que possamos achar que o binómio oprimido-opressor é redutor, não será difícil constatar, se “sairmos da ilha para olhar a ilha”, que a sociedade se divide em escalas de privilégio.
No centenário de José Saramago, celebrado nestes dias, fui folhear alguns dos seus livros, tropecei em muitas das partilhas – nunca serão demais – que foram feitas nas redes sociais de alguns excertos das suas obras. Li, entre tantos outros lampejos de lucidez, “é necessário sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não sairmos de nós”.
Este pequeno excerto levou-me a pensar no maravilhoso poema de John Donne, escrito em 1624, a que recorreu PJ Harvey num concerto em 2016, quando o Brexit ameaçava tornar-se uma realidade e a cantora, através das palavras do poeta, expunha o absurdo da cisão que se antevia entre o seu país e a União Europeia. Perante uma plateia silenciosa, a cantora gritava “no man is an Island (…) any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee”.
“A morte de qualquer pessoa diminui-me,” diz o poeta, “porque eu sou parte da Humanidade. Assim, nunca vás perguntar por quem os sinos dobram, porque estes dobram por ti”.
Esta noção da pertença de cada um a uma comunidade incomensurável, que John Donne tão bem resume, é profundamente pertinente actualmente. Essa e a ideia contida no breve excerto de Saramago, em que a capacidade de sairmos de nós próprios é o que nos permite vermo-nos. Vermo-nos e, consequentemente, vermos onde estamos em relação ao Outro. Nenhum ser humano é uma ilha, dizem ambos de formas diferentes.
É estranho que estas afirmações me surjam como essenciais, numa altura em que se vive uma escalada do discurso de ódio, da polarização de opiniões, do reforço da ideia de fronteiras que nos dividem e da desumanização do Outro?
Idealismos à parte – e eu sofro desse mal – onde estará a chave que nos permite pôr em prática esta noção de alteridade, diariamente? Sem almejarmos mudar o mundo, mas acreditando que a política não funciona de cima para baixo, dos corredores do poder até chegar ao povo; antes de baixo para cima e que o cidadão é, ainda, o verdadeiro agente de mudança de um sistema, por mais enraizado em nós que este esteja?
O que nos permitirá, num momento em que se fala de representatividade, de lugares de fala, de respeito pela especificidade do indivíduo e celebração da mesma, abraçar estas questões como sendo nossas e, simultaneamente, dar espaço àqueles que as reivindicam como suas?
Ana Luísa Amaral, outra poeta portuguesa, recentemente galardoada com o prémio Rainha Sofia, dizia o ano passado, num encontro que organizo em torno da poesia, “que nenhum oprimido viu os seus direitos concedidos pelo opressor, teve sempre que os reivindicar”. Por mais que possamos achar que o binómio oprimido-opressor é redutor, não será difícil constatar, se “sairmos da ilha para olhar a ilha”, que a sociedade se divide em escalas de privilégio. Eu sou privilegiada em relação a outras e outros. Outras e outros sê-lo-ão em relação a mim, pois não nascemos nas mesmas circunstâncias, a vista das nossas janelas não é a mesma, logo não nos é dada a mesma amplitude para sonhar.
Há uns dias, a propósito de uma discussão sobre feminismo, um colega meu dizia ter noção de este não ser o seu tempo, antes “o tempo das mulheres”. Apesar de entender a sinceridade bem intencionada que está subjacente à sua afirmação, só me ocorreu dizer-lhe que, pelo andar da carruagem, viverá seguramente sempre no “seu tempo”, porque a igualdade de género está longe de ser uma realidade e o caminho é longo e tortuoso até lá chegarmos. Contudo, o que mais me surpreendeu foi este achar que “o seu tempo” seria, necessariamente, um tempo em que o seu protagonismo se mantivesse, em detrimento da visibilidade de uma grande parte da população que continua a sofrer preconceitos com base em diferenças raciais, de género, de orientação sexual.
A ideia de pertença à Humanidade de que falava o poeta cai então por terra, porque se “o tempo do Outro” em nada me acrescenta, se o “tempo do Outro” não é o meu tempo, não pertenço verdadeiramente à Humanidade. Viveríamos então numa sociedade que é ora de uns, ora de outros, sem espaço para aquilo que se chama interseccionalidade. O mesmo se pode aplicar à discussão, tão premente, sobre o racismo no nosso país nos últimos anos e que é resultado, convém lembrar, da combatividade e da resistência de organizações que, há muito tempo, lutam para fazer desta problemática um assunto que a todas e a todos os portugueses diga respeito – A SOS Racismo existe desde 1990.
Por questões identitárias, conheço melhor a luta pela igualdade de género e pelos direitos LGBTQIA+, da qual faço parte por várias razões, sendo a principal o simples facto de existir e, não raras vezes, me deparar com o desconforto que a minha existência, per se, causa no Outro que, incapaz de “sair de si”, nem sempre entende ou reconhece a minha necessidade de espaço, do mesmo espaço. Contudo, não é onde me sinto factor de desconforto que me quero debruçar, antes onde me sinto desconfortável e, aludindo ao título desta crónica, defender porque é que esse desconforto foi, nos últimos anos, o motor de maior consciência na minha vida, na minha prática enquanto cidadã e artista.
A interseccionalidade, no que ao feminismo diz respeito por exemplo, implica compreender que a luta feminista não é igual para uma mulher branca ou uma mulher negra, uma mulher lésbica ou uma mulher trans. E ao compreender isso enquanto feminista, reforço não só o que reivindico com conhecimento de causa, mas também o que me escapa, aceitando que o meu lugar é ora o dessa reivindicação, ora o da escuta e da cedência de espaço àquelas que, por viverem circunstâncias distintas das minhas, conhecem outras amarras, outras formas de exclusão. Para aceitar, como diz John Donne, que “a morte de qualquer pessoa me diminui”, eu preciso de aceitar a minha responsabilidade pela Humanidade e pelo Outro e, assim, aceitar o desconforto que essa consciência me traz.
E que desconforto é esse? O do auto-questionamento constante, é verdade. O desconforto da escuta e, por isso, do silêncio, na era da “opinião” e das horas passadas nas nossas redes sociais para, sobre todo e qualquer assunto, dizermos o que pensamos.
Associado a esse desconforto vem, contudo, um ganho precioso: maior conhecimento. Quanto mais me afasto da “ilha”, de mim mesma, melhor abarco o que a rodeia, melhor conheço o Outro.
Não me bastou (nem basta) afirmar-me anti-racista, para me livrar de qualquer sensação de culpa que pudesse de alguma forma assaltar-me, quando à minha volta colegas negras reivindicavam de uma vez por todas uma maior representatividade nas artes performativas, Foi e é necessário perceber de que forma é que, no meu raio de ação, eu pratico realmente a escuta e estou disposta a lutar pela partilha de espaço, acreditando que, como diz Audre Lorde, “não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas”.
A interseccionalidade só será uma realidade quando se verificar nos lugares de poder, nas hierarquias das instituições, mas também na prática quotidiana de cada uma e cada um de nós: quando perante o impulso de nos defendermos, escolhermos antes ouvir.
Para fazermos frente ao discurso de ódio, este é o tempo de aceitarmos o desconforto necessário.
A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico.